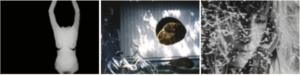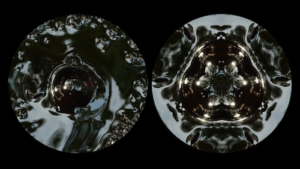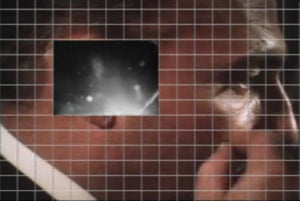Editorial
Há quase três anos, nós — Letícia, Glênis e Amanda — sentávamos no chão de um pequeno apartamento em Brasília para tentar decidir as estruturas de nosso projeto de 12 meses. Não sabíamos que o projeto só viria a acontecer em 2021. Enquanto propúnhamos que o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas poderia ser um filme dirigido por uma mulher do século XX no Brasil, não sabíamos que, quando esse momento finalmente chegasse, viveríamos um presente em que a Cinemateca Brasileira seria vítima de um incêndio causado por negligência ativa dos responsáveis por essa instituição pública. Não sabíamos. Naquele momento, há três anos, a faísca para nossa curadoria era apontar para o que veio antes e possibilita o caminho construído até aqui.
“Primeiro, a gente ama a pessoa. Depois, quer se apossar do presente dela. Depois, quer se apossar do futuro dela”, escreve a protagonista Pity em Os homens que eu tive, de Tereza Trautman — o filme escolhido para esta Sessão Verberenas. Quando sua amiga chega e lê o texto, Pity o completa escrevendo: “E fica angustiada por não poder se apossar do passado”. Por sua estrutura interna, que é leal aos processos próprios de Pity, o filme remete à integridade do tempo. Por suas condições extrafílmicas, o filme remete à continuidade de um desenvolvimento histórico de construção de narrativas que escapavam à lógica hegemônica da ditadura militar. Por sua situação de exibição no momento atual, o filme estimula uma espectatorialidade que remete às ameaças constantes de destruição da memória no Brasil em nome de um ideal de progresso traidor. Trata-se do progresso que, próximo ao destino do anjo da história de Walter Benjamin e do anjo da geohistória de Bruno Latour, nos tornará ainda mais horrorizados quando virarmos as costas e dermos de cara com o lugar ao qual chegamos.
Em outra chave, os textos desta edição da revista Verberenas desestabilizam noções de passado, presente e futuro. Neles, o tempo não se satisfaz com essas três categorias isoladas. Não são olhares que encaram fixamente uma única direção. Pelo contrário, seus corpos livres, ouvidos abertos, olhos em busca se movimentam por essas três noções em um esforço, procurando uma aposta.
Escrever, ver um filme, fazer um filme, fazer planos e tomar quaisquer ações de construção: tudo isso é sempre uma aposta. No ato do gesto, do risco, naquele segundo se reúnem os três tempos da vida. Neste movimento, o texto de Waleska Antunes, sobre a obra Surname Viet Given Name Nam (1989), de Trinh T. Minh-ha, chama atenção ao permanecer no tempo do entre e, nesse limiar, abranger múltiplas vozes que tornam impossível uma verdade única sobre a mulher vietnamita. Já Ana Júlia Silvino escreve sobre fabulações que vibram através de ruídos, imagens que existem em função das temporalidades sonoras e sensoriais presentes nos filmes de Paula Gaitán.
A pesquisadora Isabella Poppe traz cenas da autobiografia da cineasta Marilu Mallet no exílio após a deflagração da ditadura militar chilena, e apresenta um isolamento histórico capaz de alienar uma pessoa do presente e da ideia de futuro, ao separá-la da construção coletiva de seu país. Trazemos ainda mais uma entrevista de Lygia Pereira, dessa vez com a cineasta Viviane Ferreira — em que a artista pensa o tempo como uma energia que a orienta, e o cinema que produz como meio para transmitir “modos de viver”. O texto conta com ilustração de Hana Luzia. Nesta edição, trazemos também os trabalhos visuais das artistas Isabella Pina, ilustradora, e Ana Luíza Meneses, fotógrafa que idealizou e produziu a capa da revista e do editorial.
Em uma carta a Juliano Gomes — e a todas que porventura quiserem tomar parte na conversa, Lorenna Rocha se posiciona como pensadora de um cinema negro em infindável processo de invenção, e propõe um olhar que contemple o abismo. Letícia Marotta entrevista a cineasta Anita Leandro, diretora de Retratos de Identificação (2013), que fala do processo de trazer arquivos à vida, em um tempo em que as ruínas da ditadura militar brasileira ainda estão à espera de ressignificação. A memória, no entanto, é feita também do presente cotidiano, e Camilla Shinoda compartilha em seu texto como as trocas de ideias e referências entre uma professora e seus alunos de audiovisual podem dar continuidade à produção das imagens que formarão o amanhã.
Também a fabulação pode ser um ato de subversão do tempo. Ao escrever sobre Os homens que eu tive, Roberta Veiga aponta que o filme de Trautman abre “uma fenda para uma vida possível” ao proporcionar imagens de gozo e autonomia no Brasil de 1973. Os homens que eu tive é o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas, exibido de 24 a 26 de setembro e tendo seu debate com a pesquisadora convidada Roberta Veiga às 18h do dia 26.
Quando pensamos em Os homens que eu tive como marco histórico — considerado o primeiro longa-metragem moderno dirigido por uma mulher no Brasil — somos obrigadas a pensar também no que significa pensar nos filmes em termos de “primeiros”. Mais de quarenta anos separam Os homens que eu tive de O mistério do dominó preto, de Cléo de Verberena, de 1931, aquele que é considerado o primeiro longa-metragem clássico brasileiro dirigido por uma mulher. Em ambos os casos, o risco e a realidade do apagamento assombram: o filme de Verberena foi perdido, não se sabe de uma cópia que reste; o de Trautman foi censurado semanas depois da sua estreia em 1973. Face a esse constante perigo, não podemos evitar pensar na concretização desse medo e nos perguntamos: quantos filmes foram perdidos nesses quarenta anos? Quantos foram perdidos antes de 1931?
Resgatar as materialidades, os vestígios, agir e tecer um fio é uma decisão consciente. E, ao mesmo tempo que a continuidade é uma construção e um esforço, ela é também inevitável. Resta compreender o que levar conosco nesse processo e o que pode nos auxiliar a desvendar os desafios que o tempo determina. Esperamos que os textos publicados aqui, junto com a escolha curatorial, possam caminhar nessa direção.
Letícia Bispo, Amanda Devulsky e Glênis Cardoso
AMIUDAR O CINEMA, AMPLIAR O OLHAR: NOTAS SOBRE O CINEMA DO COTIDIANO E EDUCAÇÃO
Um ensaio fragmentado em notas sobre pensamentos inconclusivos que me acompanham há alguns anos dentro das salas de aula e de cinema. A ideia aqui não é um aprofundamento, mas sim um passeio sobre reflexões e acontecimentos que perpassam a minha prática educacional e o meu fazer cinematográfico. Esse diálogo parte do que chamo de cinema do cotidiano. Essa expressão não é um conceito formal, mas sim o modo como tenho chamado filmes que se debruçam sobre a vida ordinária, sobre acontecimentos e personagens tidos como comuns, se tomarmos como contraposição a produção hegemônica, em que o extraordinário se faz mais presente. Nesses fragmentos, o comum não é algo menor em relação ao extraordinário, mas sim algo a ser valorizado, algo que deve ocupar cada vez mais o espaço da tela de cinema.
fragmento 1 – o espanto
O pequeno, quando se torna grande, assusta. O plano detalhe — aquele momento em que elementos imperceptíveis na maior parte do tempo ocupam as proporções enormes de uma tela de cinema — é um recurso comum, mas fundamental na constituição da tal magia do cinema. Por poucos instantes, vemos o mundo a uma distância que não é usual. Os planos muito fechados exigem aproximação, intimidade e cuidado para que sejam bem realizados. Não por acaso, são planos raros em primeiras experiências com o fazer cinematográfico. Há alguns anos, dou aulas em oficinas e cursos regulares de produção audiovisual. Normalmente, há um receio em se aproximar radicalmente do que está sendo filmado. Existe um desconforto físico mesmo, que facilmente é substituído pelo zoom ou por planos mais abertos. Chegar muito perto não é fácil. É preciso observação e confiança.
Guardo uma recordação muito intensa do dia em que vi o curta “Pouco mais de um mês”, de André Novais, pela primeira vez. Não lembro exatamente qual era a mostra ou festival, mas ainda sei dizer o espanto que me tomou quando o filme terminou. A um olhar tão acostumado em ver o extraordinário e o incomum nas obras de ficção, foi um choque ver a grande tela ocupada por uma história pequena, que poderia ser vivida por qualquer um. O ordinário não estava apenas no plano detalhe. Ele tomava conta dos planos abertos, do som, da narrativa por inteira. Foi estranho perceber como uma situação absolutamente comum foi capaz de emocionar tanto. Sem que tivesse uma consciência imediata, “Pouco mais de um mês” inaugurou em mim a possibilidade de fazer cinema.
Anos depois decidi estudar o filme no mestrado, tamanho foi seu impacto para mim. Por sorte, agendei uma entrevista com o diretor André Novais. Ele participava de uma edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), na cidade. Um novo espanto. Como uma boa pesquisadora iniciante, estava munida de teorias e hipóteses que explicassem essa opção de André Novais pelo banal. E era isso que eu esperava do cineasta: justificativas conceituais, referências acadêmicas e cinematográficas. Contudo, no decorrer da conversa, André me desmontou. A sua fala era constituída de um profundo vínculo com o seu cotidiano e território. Ele achava bonito a possibilidade do efeito da câmera escura no teto do apartamento da companheira. Assim como achava bonito o muro chapiscado no quintal da casa dos pais. E isso já era motivo o suficiente para se fazer um filme. Essa conversa me reconectou com aquela sensação da primeira vez em que assisti o curta. Cinema é sim muito estudo, pesquisa, trabalho; mas também é instinto e sentir.
fragmento 2 – o reconhecimento
Não é fácil propor uma curadoria de filmes que questione o modelo de produção audiovisual mainstream na escola, principalmente quando estamos diante dos jovens do ensino médio. A linguagem cinematográfica, para eles, é, em sua grande maioria, sinônimo dos filmes de heróis ou das séries do Netflix. Esse imaginário adolescente também é povoado pelos videoclipes, canais de Youtube e o conteúdo audiovisual de outras redes sociais, como o Tik Tok. Existe uma série de motivos para isso — a hegemonia econômica da indústria audiovisual norte-americana, a naturalização desse padrão de produção estado-unidense por nossas emissoras de TV e grandes produtoras audiovisuais brasileiras, falta de políticas públicas que estimulem verdadeiramente a distribuição de filmes nacionais independentes, entre outros —, mas esse texto não pretende discutir todas essas questões diretamente.
A ideia é entender como lidar com essa realidade enquanto professora, pensar em estratégias para exibir produções diversificadas em sala de aula e compartilhar aqui algumas das situações mais significativas que vivenciei. Apresentar filmes com uma construção estética e narrativa distinta, costumeiramente, vem acompanhado de comentários como “Esse filme é muito devagar”. Quando, além de novos usos da linguagem, propomos filmes com temáticas do cotidiano, o desconforto é ainda maior: “Não acontece nada nesse filme”, “O assunto até que é importante…” e o clássico “Não entendi nada” são comentários recorrentes. A ruptura com esse modelo de cinema hegemônico na vivência dos jovens provoca estranhamentos; o conflito tradicional faz falta, assim como os acontecimentos e personagens extraordinários e a montagem veloz. Mas essa primeira impressão não é algo sólido e se dissolve a partir de algumas estratégias que buscam desconstruir esse padrão audiovisual como o único possível ou como aquele que deve ser considerado profissional.
O filme “A cidade é uma só?”, de Adirley Queirós, é um dos exemplos de produções não hegemônicas que possuem uma recepção fílmica diferente. Apesar de romper padrões de linguagem e de construção narrativa, a obra desperta muito entusiasmo em sala de aula. Não há uma única vez que o jingle da campanha da personagem do Dildo — “Vamos votar, votar legal, 77223 pra distrital, Dildo!” — não seja entoado pelos estudantes. Iniciar o processo de reflexão sobre a pluralidade do cinema a partir de uma obra que provoque esse interesse pode ser um bom começo.
Após as exibições do longa de Adirley, eu pedia uma crítica escrita sobre o filme. Costumava selecionar alguns textos para serem lidos na aula seguinte, retomando o debate da obra. Qual não foi a surpresa da turma, quando um dos textos escolhidos foi o de Luiz Henrique, um jovem querido pelos colegas, mas conhecido por ser muito “bagunceiro”. Mesmo sendo um garoto criativo, ele nunca era apontado como destaque por outros professores. Após um pequeno alvoroço, ele leu feliz o seu texto e foi muito aplaudido pela turma. Em seguida, questionei a turma: “Pessoal, por que o texto do Luiz ficou tão interessante?”. A resposta veio, em tom de piada, de outro colega: “Porque ele é cria, fessora!”
“O longa ‘A Cidade é uma só?’ é muito bom, pelo motivo de que retrata muito bem a realidade em que meu povo vive”, afirma o rapaz em seu texto. Chamou a sua atenção, a rotina de trabalho cansativa do personagem, a diferença entre a campanha política de Dildo e a de grandes candidaturas, mas ele também ficou satisfeito com a presença do rap. “Outro lado bem chamativo é que o longa é tão relacionado com nosso dia a dia que, quando estamos assistindo, parece que estamos na pele do personagem Dildo…”, escreve. Durante os debates em sala aula, percebi que vários estudantes também se relacionaram com a rotina do protagonista e que muitos deles tinham em sua família alguém que tivesse sido empurrado para uma região mais distante do Plano Piloto. A sensação de se reconhecer intimamente em uma história que ocupa a sala de cinema é estranha, pois o habitual é assistirmos acontecimentos distantes da nossa vida. Essa não é a única maneira de se relacionar com um filme, claro, mas comecei a perceber que era uma abordagem muito interessante para se trazer para estudantes de audiovisual. Afinal, quando é possível se reconhecer em uma obra, é muito nítida a emoção provocada. Tenho a impressão de que a nossa própria existência ganha um novo sentido.
fragmento 3 – elos
Abrir um diálogo entre os estudantes e os filmes que rompem com suas expectativas de cinema é um passo importante para o surgimento de um interesse real. Nessa linha, as sessões do filme Temporada, de André Novais, foram bons exemplos desses momentos nos quais o debate sobre a obra auxiliava a construção de um novo vocabulário fílmico.
Os planos longos e estáticos, a ação extremamente cotidiana, as pessoas de vidas absolutamente comuns estampam a cena. Tudo no longa se desvia de uma linguagem mainstream, causando desconforto nos jovens: “Mas professora, é um filme sobre o combate à dengue? Só isso mesmo?”, “A vida dessa moça parece a de uma vizinha”, “É um documentário?”. Essas percepções de que a vida comum só tem espaço no documentário são muito recorrentes. Nesse caso, a trajetória do diretor André Novais surge como uma maneira de estabelecer um vínculo entre os estudantes e a obra. Pode ficar mais fácil aceitar uma ficção que conte uma história próxima da sua realidade, quando se entende que o realizador também tem um percurso semelhante ao seu. A ideia de fazer um filme na sua cidade, com sua família e amigos para ser projetado nas salas de cinema, transforma a visão pré-concebida da própria vida cotidiana.
Ampliar o olhar para o que está próximo permite ressignificar a relação com o ritmo do filme. Se a vida não possui um mesmo ritmo sempre, por que as obras cinematográficas precisam ter? Conciliar a velocidade da narrativa com os sentimentos com os quais ela dialoga são também uma opção. Essa descoberta é forte e abre espaço para o entendimento de que a vizinha e as suas transformações cotidianas também podem ser protagonistas. “Tem horas que a vida fica mais parada mesmo. Vou até ver o filme de novo”. Não sei se a estudante Jannielly cumpriu a promessa de rever o longa, mas entendi que a sua visão sobre narrativas não-hegemônicas começava a se modificar.
Fragmento 4 – explosão
Exibir o curta-metragem Travessia, de Safira Moreira, provoca reações explosivas. Em apenas 5 minutos, o documentário faz uma viagem ao passado, questiona um direito à memória que foi negado, e volta ressignificando o presente, com uma proposta de cura para séculos de apagamentos. Poesia, audiovisual e memória se entrelaçam para indignar e comover. Depois da sessão, a estudante Letícia, do segundo ano do ensino médio, procurou-me para confidenciar: “Essa é a história da minha mãe.” Dona Maria Aparecida não tinha fotos de sua infância e nem de seus pais. A lembrança guardada era representada por uma foice, instrumento utilizado para trabalhar na plantação de sisal. O filme contribuiu para uma compreensão inicial sobre a política do esquecimento e o racismo estrutural que atravessam a história de nosso país e de como isso impactava diretamente na trajetória singular da família de Letícia.
Durante o semestre, havia a proposta para realização de um dispositivo fílmico1sobre o afeto. Reencontro-me com a mãe de Letícia mais uma vez. Grandes tremores reverberam por muito tempo. A jovem tinha devolvido à dona Maria Aparecida o direito de contar sua história, de ter sua memória registrada, de ser lembrada. A mãe e sua foice, instrumento de trabalho que traz “lembranças boas e ruins”, haviam se tornado um pequeno filme. Maria Aparecida, uma mulher jovem e bonita, conta a história daquele objeto em sua vida. O plano médio e estático, feito no celular, se concentra no depoimento da mãe. Nas imagens de cobertura, Aparecida, generosamente, compartilha conosco o procedimento para transformar o sisal em fibra. Ela está consciente de como a condição do seu trabalho se aproximava a de um trabalho escravo. Respeita, no entanto, a ferramenta que carrega a história de sua família. Ao final do vídeo, as duas trocam de papéis: Maria Aparecida empunha a câmera — equipamento de trabalho da garota — e faz o contra plano de Letícia observando a foice. Um último plano simples, à princípio, mas nele, passado e futuro se cruzam. Com a câmera, a mãe olha para a frente. Com a foice, a filha não esquece de onde veio.2
Arrisco dizer que Letícia desenvolveu uma outra relação com o fazer cinematográfico e com o seu próprio cotidiano. O encontro com o que chamo de cinema do cotidiano movimenta novas possibilidades de narrativa. Muito embora já existissem, agora há a certeza de que elas podem e devem ocupar um espaço maior do que o de nossas casas.
Fragmento 5 – re-existências
“E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história”. A frase do pensador indígena Ailton Krenak costurou anos de reflexões sobre cinema e educação, esse encontro incendiário, que retoma passados, subverte o presente e nos permite inventar um futuro verdadeiramente justo. Pensar sobre o cinema do cotidiano não é necessariamente impor uma estética realista, um determinado ritmo de montagem — até porque alguns dos realizadores citados nesse texto, se utilizam do fantástico em outras obras —, mas sim reacender o olhar para narrativas contra hegemônicas. É expandir percepções para que compreendamos os nossos arredores enquanto cenários, aceitemos nossos corpos enquanto protagonistas, e entremos na importante disputa para a constituição de imaginários. É sobre fortalecer subjetividades, para que todos se entendam também enquanto narradores/autores de seu cotidiano. Claro que o cinema do cotidiano não é o único capaz de realizar essa ampliação do olhar, mas acredito que ele permita processos muito interessantes para serem discutidos dentro da sala de aula de cursos de audiovisual.
Ao compartilhar com a turma de uma oficina na Ceilândia o processo de escrita de seu primeiro roteiro, a estudante Suéllen chorou. Uma jovem inteligente, militante e articulada se emocionou profundamente, pois confessou não se ver, até então, como alguém capaz de contar histórias. Acredito que, muito além de técnicas de estruturação narrativa ou regras de formatação, uma oficina de roteiro deve ser a formação de um espaço de confiança e intimidade. Chegar perto não é fácil, observar o pequeno não é uma atividade indolor. Amiudar o cinema é a compreensão que ele pode ser do tamanho da gente, e que a gente é enorme. No cinema, tudo é realmente possível.
fragmento 6 – utopias
Não é fácil sonhar, imaginar, inventar e educar em um mundo capitalista. A ideologia neoliberal adentra as salas de aula exigindo saberes objetivos, fórmulas que preparem para o mundo do trabalho. Nas regiões periféricas, essa cobrança se intensifica, pois não há sonho possível onde não há sobrevivência. Não dá para ignorar que existe um mercado, repleto de padrões que identificam uma produção como profissional, pois se o estudante periférico não conseguir fazer parte dele, provavelmente, a realização audiovisual não poderá fazer parte de sua vida. Experimentar, atualmente, é direito de poucos. E qual é o espaço que sobra para a invenção?
Por enquanto, o espaço são as brechas, os pequenos desvios na rigidez da estrutura educacional e do mercado de trabalho. A curadoria de filmes que levamos para a sala de aula planta sementes, mas tenho o palpite de que o mais valioso é iniciar a compreensão de que o cinema não é apenas um filme, mas sim uma mediação possível entre você e o mundo. Você vive em um território, que não existe sem uma comunidade. Cinema é coletivo, o território é coletivo, a educação é coletiva e o coletivo é público. O público é de todos. Parece apenas redundância, jogo de palavras, mas para mim, é a utopia a ser perseguida. Não é novidade também, mas sim uma luta travada por muitos. Sou só mais uma contando essa história.
A BELEZA ESTÁ DENTRO DE NÓS, QUE OLHAMOS: ENTREVISTA COM EVERLANE MORAES
“A beleza está dentro de nós, que olhamos” é a segunda de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.
A conversa com Everlane Moraes aconteceu em abril de 2019 durante a 4ª edição da EGBÉ, na qual Everlane Moraes foi homenageada, em Aracaju (SE). Everlane é natural de Cachoeira (BA), mas foi na capital sergipana, mais especificamente no Quilombo Caixa D’água, que ela passou grande parte da infância até o início da vida adulta. O quilombo e seus moradores são os personagens principais de Caixa D´água: qui-lombo é esse?, o filme que inicia sua filmografia. Em 2015, Everlane ingressou na Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba e lá, seu cinema encontrou um interessante diálogo afro-americano. Na entrevista conversamos sobre filosofia, fábulas, mitos e desejos. Aproveite!

Everlane e o pai, o artista plástico sergipano José Everton Santos.
Lygia Pereira: Everlane, me conte um pouco sobre sua trajetória.
Everlane Moraes: Eu venho das artes plásticas, que é minha primeira área de estudos, pela qual eu tenho muita paixão. Nesse percurso também estudei um pouco de Filosofia da Arte, principalmente, semiótica, iconografia, iconologia das imagens, que é a parte que eu mais gosto nos estudos das artes plásticas. O curso que fiz é de licenciatura, metade bacharelado e metade licenciatura. Quem tem aptidão artística como eu, que bom, mas quem não tem fica nessa parte teórica da História da Arte ou da Licenciatura. Então eu consegui conciliar as duas áreas no mesmo curso. E quando você está estudando Filosofia da Arte, consequentemente você já estuda Filosofia em si. Como meu irmão é filósofo, eu tive acesso à filosofia grega e à filosofia moderna também, em casa, o que me deu uma base boa pra eu entender depois filosofia ocidental da arte.
E por isso que eu busquei mais o cinema, porque era uma arte que me possibilitava expandir mais essa coisa das artes visuais e até implementar meu processo plástico, que seria da pintura, das artes plásticas tradicionais, para o cinema, onde eu transponho de maneira super tranquila. Por isso eu acho que meus filmes são tão plásticos. Então, acho que minha base seria essa, filosofia e artes. E dentro dessas duas coisas o que eu mais gosto de estudar, real, é a questão da linguagem cinematográfica, a linguagem das artes em si ou o pensamento em torno da expressão artística de maneira geral, universal, mais especificamente trazendo o recorte para a diáspora. Hoje o meu desejo é estudar filosofia africana, pois no meio disso tudo, quando a gente estuda filosofia, a gente estuda também sociologia, antropologia, fenomenologia, todas essas logias que giram em torno da imagem, giram em torno do social, giram em torno da cultura. Eu gosto, acho que tudo isso se complementa.
L: Eu queria ouvir um pouco mais sobre o “Pattaki”. Desde a sua criação a sua concepção, porque ele é um filme de muitas camadas, tem muitas metáforas e acho que ele traz muito forte essa questão da iconografia múltipla, que você fala.
E: Em “Pattaki” eu queria marcar a presença do mar no filme. Eu gosto muito do mar, eu sou filha de Iemanjá, e é um elemento muito forte, a gente sabe que na diáspora é um elemento central na nossa narrativa, porque o mar nos levou, o mar nos trás, é o mar da escravidão, o mar dos barcos. O mar que é esse orixá forte que rege todas as culturas afro no mundo, este elemento da Deusa do mar que é muito forte. Então, eu queria fazer um filme sobre isso, aproveitando que eu estava Cuba, eu estava numa ilha, onde somos rodeados pelo mar. Também tem essa presença do meu orixá, que cada vez mais se aproxima de mim. Mas esse elemento do peixe que é muito interessante, do peixe enquanto personagem, enquanto um ser dúbio, completamente dúbio, eu gosto muito do peixe. Antes, era um filme sobre Sikán, uma rainha africana que foi condenada e morta por supostamente contar o segredo sagrado ao seu amante e que deu origem a uma seita secreta cubana chamada Abakuá, única no mundo. Pesquisei muito, fiz 23 páginas de projetos e tava tudo certo pra fazer, mas comecei a adoecer, teve umas coisas meio loucas, de ameaça, meio complicadas, porque esse tema é extremamente complicado, então eu tive que abandonar esse tema. Mas aí eu já tinha a vontade de fazer um filme sobre um relato mitológico, eu gosto muito das mitologias enquanto relatos (…) Eu queria transformar a mitologia em imagens, o que também já foi feito no cinema várias vezes, mas eu não tenho muito conhecimento em relação ao documental. Se fez muita mitologia em ficção, mas não documentário em si. Na verdade, na Itália, teve até um cara que pesquisei, um branco aí que eu pesquisei. Ao mesmo tempo eu queria fazer uma mitologia que tivesse essa coisa dos orixás, essa coisa de força sobrenatural, alguma coisa cósmica, mas queria ter como base o social, a vida e a sociedade cubana. O intento foi esse, o de juntar essas duas linguagens, a oralidade dos mitos com a paisagem contemporânea de Cuba transformada, elevada a algo mágico, como se Cuba fosse um lugar mágico. Que essa coisa misteriosa e mágica de Cuba tomasse conta da paisagem social e moderna de Cuba. Então, eu inventei um pataki.

Pattaki (2019)
L: O que é pataki?
E: Pataki significa mito, em Cuba. Só em Cuba existe o pataki para a Santería, A Regra de Ocho ou Ifá. Pataki quer dizer “os caminhos dos orixás”. Cada orixá tem seu caminho, então, por exemplo, o livro de Reginaldo Prandi tem vários patakies, que pra gente não tem esse nome. Mas são vários mitos e cada orixá vai ter o seu caminho, seus mitos, seus relatos que dizem um pouco sobre seu poder, sua psique, seu modo de agir no mundo, sua função. Um mito sempre explica a origem de algo. Por exemplo, a gente explica a presença do mal, dos males no mundo através do mito de Pandora, porque Pandora abriu a caixinha lá de Prometeu, seu marido, e ela com sua curiosidade de mulher abriu a caixinha e nela estavam presos todos os males do universo. A partir da hora que ela abriu, esses males surgiram. Os homens antigos, ao tentarem explicar os males que existem, contavam uma história ou se remetiam a um mito para explicar a origem de algo.
Então, eu inventei esse mito para falar um pouco sobre o porquê dessas pessoas ou no caso, esses peixes viverem se afogando ou viverem sufocados fora da água. Por que eles não estão na água? Por que eles estão dentro de um aquário? Que é porque eles são regidos por limitações sociais ou limitações humanas. A mulher peixe, por que ela não respira? Por que esse peixe não respira? Porque esse peixe está escondendo algo, sua essência. A partir do momento que esse peixe tirar sua máscara, como a sereia [personagem trans do filme], ele vai conseguir respirar melhor. É uma metáfora sobre algo que o ser humano esconde, o que ele tem de mais íntimo dentro de si e ele esconde, passa a viver sufocado.
São analogias simbólicas para explicar alguns comportamentos, algumas situações humanas. Por que a gente é tão ganancioso, né? A ganância acaba levando a gente pra algum lugar. Então aquela mulher dos cubos [personagem do filme] é isso, o medo e a ganância levando a gente a se afogar nos nossos próprios medos. Por que o homem se protege nas suas casas, fazendo muros, fazendo contenções, fazendo barreiras que o separam da sua própria natureza ou da natureza em si? Como o Malecón [estrutura de concreto que percorre 8 km da faixa do mar em Havana, Cuba], por exemplo, que separa a cidade do mar, como os prédios e tudo. Chega um dia que a natureza pede de volta, o homem vive com medo que um dia a natureza peça de volta o que ele tenta controlar. A mulher cega [(personagem do filme] representa a fé. Como é que a gente acredita que algo vai curar uma coisa que é incurável? Só através da fé. Ao mesmo tempo que o homem construtor [personagem do filme] tem medo de que essa chuva venha, pois pode desfazer o que ele construiu para se proteger, a mulher cega espera a chuva, que para ela é sagrada. A água é o elemento da vida. Sem a água a gente não vive, existem vários elementos que giram ao redor da água. Agora, e que água é essa? Essa água é essa Deusa. É Iemanjá que tudo vê, tudo controla e tudo castiga também, tirando um pouco de água, dando um pouco de água, tirando aos pouquinhos. E o ser humano vive à mercê dessa força maior.

La Santa Cena (2016)
L: Queria voltar na questão da mitologia. Estou bastante interessada em pensar o Paul Gilroy. Lá no Atlântico Negro ele vai falar dos navios até o diskman como canais de transmissão mitológica. E eu tenho pensado muito no cinema, em como ele pode ser também esse canal de transmissão de modos de viver, modos de pensar a diáspora africana. E aí, por exemplo, no La Santa Cena você parte da representação da Última Ceia do Da Vinci para subvertê-la. Eu queria saber se você busca fazer esse “caldo mitológico”, misturar mitologias ocidentais. Por exemplo, o galo (personagem do filme La Santa Cena) é importante pra mitologia cristã também né?
E: Sim, com certeza. Eu gosto muito dessa coisa de dominar um certo tipo de linguagem universal ou ocidental e dar a ela uma roupagem dentro da cultura afro. Porque a cultura branca é muito influenciada pela cultura negra, a gente só foi forjado, interrompido. E a gente consegue assimilar a cultura do branco e ressignificar dentro da nossa própria cultura, diferente do branco que não consegue assimilar a cultura do negro, a não ser impondo os seus códigos.
L: Que é um pouco o que é o cristianismo, né?
E: É, o branco impõe seus códigos e o negro mesmo com códigos impostos consegue ressignificar dentro da sua própria cultura, isso pra mim é nossa maior resistência, a gente resiste porque a gente não impõe, a gente complementa, dá uma nova roupagem. Assim como, por exemplo, a gente é tão simbólico que Iemanjá pode ser Nossa Senhora Aparecida, sabe? Não tem problema, a gente tá falando da água, de uma energia maior que é a água. Se um branco crê que essa senhora branca é essa água, a gente também tem uma deusa que é a água, então a gente traz pra gente, complementa as nossas potencialidades com outras potencialidades, é uma coisa muito mais aberta para assimilar. O que eu gosto muito também é de rebaixar essa presença branca ou essa legitimidade branca universal e do poder oficial e ressignificar esse próprio poder do branco, melhorando-o, quando o transformo em coisa preta.
Eu tento fazer uma iconografia que entre em contato direto, em crítica direta ou diálogo direto com outra iconografia que foi imposta. Então se você diz que a Santa Cena é essa, eu digo que a Santa Cena é esta. É uma disputa de poder simbólico. Eu gosto de disputar simbolicamente com o branco, nesse sentido, entendeu? Porque nós temos simbologias muito potentes que foram invisibilizadas. Isso o que você falou é muito interessante, de que o galo é um elemento tão cristão, né? Mas é um elemento tão afro também. Eu gosto de ficar brincando, criticando, fazendo diálogos com a história oficial, é isso. E rebaixando ela à superficialidade, mostrando a ela realidades maiores, mais simbólicas.
L: Você acha que isso é fábula pra você?
E: Não… não. Acho que isso é a parte Everlane conceitual, Everlane crítica, Everlane que quer brincar mesmo… que detém o poder, detém o poder da fala e da imagem e quer brincar e dialogar com essa história oficial de bosta. Mas a parte da Everlane da fábula é a parte da minha cultura, em si. Embora eu seja uma negra até muito culturalmente ocidentalizada, que conhece muito da história do branco, que consegue navegar por esse lugar com muito conforto, eu também sou muito, muito negra. Eu gosto da cultura negra, eu gosto de pesquisar isso, eu acho maravilhoso. Eu acho que a potência está aí. Em tudo isso que eu faço eu quero potencializar a minha cultura, que é o que eu acho que há de melhor no Brasil, no mundo. Esse é o meu lugar de conforto, que eu nunca vou sair e que não é uma coisa que eu sinta que é uma imposição minha, de me legitimar nos espaços, não. Pra mim é onde está a potência.
Eu nasci em Cachoeira, eu não tenho como fugir, eu nasci em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, fui criada num quilombo. São coisas que estão em mim, compromissos ancestrais que estão em mim, que não saem, são missões que estão em mim, concepções de vida que estão em mim, modos de vida que estão em mim e questões conceituais que estão em mim e que eu acho que eu nasci pra isso, minha missão é essa. Eu não sinto outra coisa dentro de mim, desde pequena, é um lugar confortável. Então como eu tive muito acesso ao universo branco e via como eles diminuíam a gente, eu abracei essa causa. Estar o tempo todo lidando e batendo de frente com o branco, usando a própria linguagem dele para destituir. Usando a própria linguagem dele pra rebaixar o status dele, não como obsessão, mas como proposição, embate. Um processo de retorno ao que foi tirado de nós.

Allegro Ma Non Troppo: la sinfonia de la belleza (2016)
L: Se você puder falar um pouquinho mais sobre a questão da linguagem e como você vê essa ponte entre a linguagem e a filosofia afro-diaspórica.
E: Preciso conhecer muito mais da África, nós conhecemos muito pouco da África. Eu sou muito autodidata, sou uma acadêmica extremamente rebelde e eu trabalho muito na fragmentação. A gente da diáspora é muito fragmentada, somos seres multi.. é… polivalentes, multifacetados e fragmentados, eu gosto dessa ideia de fragmentação e de não conhecer tudo da África e deixar espaço pra essa idealização que eu tenho da África, sabe? Eu não quero aterrissar completamente numa África que não existe, que está somente na nossa cabeça e no nosso coração, que tá dentro do terreiro. Eu gosto muito de estar nesse lugar, de uma Everlane que está muito idealizada, uma Everlane que está muito utópica. Eu tento conciliar o saber alguma coisa, com o não saber nada e o saber um pouco sobre, porque aí sobra espaço pra eu fabular o que eu quiser. Eu gosto muito desse limbo, que é o que eu acho que eu vivo, entre ser brasileira e ser africana. Às vezes eu sou muito brasileira, às vezes eu penso e sinto ter algo de África, às vezes eu não sou nem uma coisa nem outra ou sou as duas coisas. Eu prefiro estar nessa fronteira muito tênue, de estar flutuando, de não saber se eu sou uma coisa ou sou outra, de buscar uma referência aqui, uma referência lá, de buscar.
Eu acho que a gente tem que conhecer mais de África, primeiro, a gente conhece muito pouco. Eu não me sinto muito confortável de estar representando África ou estar dizendo que eu sou África. Eu sou brasileira, afro-descendente e tenho uma ancestralidade africana que eu não sei completamente qual é, porque é muito difícil você saber de qual povo você veio, é uma mistura de povos, é uma série de coisas. Tampouco eu sou um tipo de negro que nasceu dentro do Candomblé, como nossas mães-de-santo, nossos pais-de-santo que já nasceram feitos santo, que viveram muito tempo dentro do terreiro, que não tiveram acesso às universidades, a viajar pelos festivais, a ter contato com o branco como a gente tem. Então somos negros influenciados por essa outra cultura imposta. Sou do candomblé, mas meu caminho de retorno às minhas origens é muito tortuoso, diferente de uma irmã de santo que nasceu ali, que não foi tão influenciada quanto eu pelo “de fora”. Sou da Bahia, mas não sou da Bahia também. Eu sou uma negra influenciada por uma outra cultura, porque tive acesso a outras coisas. Então isso também é uma coisa que limita, a gente conhece uma África muito mais acadêmica, uma África muito idealizada. Tem sido um caminho tortuoso de retorno, mas que tá me fazendo muito bem, completando um vazio que existia dentro de mim.
A linguagem pra mim é uma questão do que eu gosto. Eu gosto de observar, eu gosto de colher elementos simbólicos, elementos sociológicos e elementos plásticos. O que mais me enche os olhos são as cores, a alegria, a música, a comida, o cheiro, essa cultura que é tão sensitiva. No Candomblé, por exemplo, o nosso Deus vem dançar com a gente, ele entra dentro da gente, ele é a gente. O que a gente cultua são elementos naturais, é físico, tudo tem textura, tudo tem cor, tudo tem alegria, tudo tem música, tudo tem brilho e é isso que eu trago pro cinema, não é nada além disso. Utilizar a luz ao nosso favor, utilizar a linguagem do cinema ao nosso favor para acentuar a beleza que a gente tem, acentuar a complexidade que a gente tem e que é. Somos seres misteriosos, por isso que o branco, a sociedade branca tem medo da gente, porque a gente mesmo sofrendo por 500 anos de colonização, sofrendo tudo que a gente sofre até hoje, a gente tá vivo até hoje, sendo lindos, sendo felizes, ressignificando, fazendo música.
A gente não morre nunca, a gente tem um poder tão grande que é por isso que a gente foi escravizado, por isso que a gente é invisibilizado, porque há um medo muito grande em relação a gente. Eu tento usar a técnica do cinema, a linguagem a nosso favor, acho que toda arte faz um pouco disso, valorizando o que não foi valorizado. Não é algo gratuito, não é superficial, meus filmes são filmes de gesto. O meu gesto, a sensação, é como se eu estivesse pintando. Eu pinto com luz, pinto com foley, pinto com textura.

Caixa D’água: Qui-Lombo é esse? (2012)
L: Seus filmes são muito silenciosos. Você vê alguma ligação com a oralidade da cultura afro-brasileira?
E: Eu vejo. A literatura, principalmente a oral africana, é muito voltada pra palavra obviamente, mas não é uma palavra objetiva, não é uma informação, é uma contra-informação. Existe nossa imagem do Preto Velho, o que é o Preto Velho? Preto Velho é uma entidade eminentemente brasileira, ele nasceu escravo, diferentemente de quem veio escravizado, ele foi um escravo que já nasceu de pais escravos, em que seu contexto já foi de escravitude desde pequenininho. Ele cresceu como escravo e ele ficou velho, o que é uma coisa muito rara, porque geralmente os escravos duravam 30 anos. Esse preto velho chegou aos 60, 70 anos, só essa resistência eleva ele a um patamar de ancestralidade e importância dentro da comunidade negra que não tem precedentes, é um cara que conseguiu ver muitas coisas. Então ele se torna um conselheiro desse lugar, uma pessoa que aconselha e conta histórias, porque ele tem memória, tem vida pra poder ter esse porte, esse cargo. Quando você escuta uma história, por exemplo, uma história mitológica, fabular, ela sempre quer dar uma sentença, né? Sempre tem no final uma moralidade, é para ensinar algo, é para você refletir. São coisas muito didáticas, mas faladas de uma maneira muito circular, meio misteriosas, nunca é uma informação direta, é uma informação fabular, por quê?
Porque o que se espera dessas histórias é que a pessoa fabule imagens, que dê tempo da pessoa pensar, refletir, buscar caminhos, que não é o caminho direto, é um caminho muito mais interior. Então eu acho que meus filmes tentam um pouco disso, serem menos diretos e fazerem mais curvas.
Eu sou menos o griô e mais a pessoa que escuta. Eu acho que eu escutei tantas histórias morando ali no Caixa D’água, morando no terreiro e tudo mais, que o que eu consigo fazer é reproduzir o meu silêncio ao escutar essas histórias e reproduzir todas as imagens que ficam aqui na minha cabeça enquanto a pessoa fala. É como se o griô falasse pra mim e a voz dele virasse uma voz em off dentro da minha cabeça. Eu reproduzo o sentido do que o griô tá falando e não o que o griô tá falando.
L: Você escreve roteiro dos seus filmes?
E: Todos, todos. Eu desenho, faço storyboards, faço um roteiro, faço um argumento, faço um roteiro técnico, faço um roteiro linear, como o de uma ficção, eu faço vários tipos de roteiros, faço um gráfico de simbologias. Eu piro o cabeção. Agora meus roteiros são muito de imagens, mais do que de palavras. Eu gosto do silêncio, acho que a gente precisa de silêncio no mundo, a gente precisa escutar, a gente vive num mundo muito dialético, muito impositivo, da palavra, da voz, que é muito forte. E a gente conseguiu resistir através do silêncio, nossas mulheres principalmente, e os homens também. Conseguimos resistir através da fala, quando alguns falaram e foram mortos, quando alguns conseguiram chegar no espaço em que puderam falar, mas também resistimos muito através do silêncio. Quantas mulheres não morreram e não viveram toda uma vida de silêncio? De choro, falando pra dentro? Quantas vezes a gente não teve que tramar através dos olhos uma fuga? Quantas vezes no silêncio a gente não tramou rotas de fuga através do cabelo? Quantos de nós não nos comunicamos pelo olhar? Um negro e outro negro se comunicam pelo olhar quando gostam de alguma coisa ou quando não gostam. A gente tem essa sensualidade, essa coisa do gesto, a gente é muito expressivo. Tudo isso pode ser acentuado se você diminuir a fala, diminuir o discurso.
A gente vive num mundo muito discursivo e acho que isso mata muito as imagens. No terreiro a gente aprende a escutar e a calar. Então, meus filmes são a reprodução desse silêncio. Uma expressão vale muito, quando uma pessoa tá triste você pode perguntar a ela por que ela tá triste, mas o corpo dela diz que ela tá triste, diz que ela tá feliz. E a gente quando tá feliz a gente dança, a gente não fala que tá feliz. Como meu cinema é muito performático também, tem um viés performático, talvez seja um dos motivos. Mas é um cinema no qual toda questão dialética e do discurso estão na minha pesquisa, estão em mim, mas no momento de evacuar isso eu tenho muito mais critério para não impor minhas ideias. Eu tenho ponto de vista, mas eu não imponho ideias. Eu não gosto da minha voz também. E eu não tenho certeza de nada, também. Então eu tô fazendo o filme no fluxo né, da vida, então é um fluxo de observar.

Pattaki (2019)
L: Você pensa essa performance a partir do corpo?
E: Do corpo, do corpo somente. Do meu corpo e do corpo do outro. Eu intitulo meus filmes como um Cinema-Espelho, eu me vejo nos meus filmes. Não faço filmes nos quais eu não me veja. São filmes que falam de mim para os outros e que também falam dos outros, que é a mesma coisa que falar de mim. Então são filmes nos quais eu tô confortável ali, porque eu tô me vendo, é o meu próprio reflexo. Eu nunca vou fazer um filme de pessoas que eu não admiro, porque eu não tenho essa capacidade de falar mal de alguém. Então só faço filme de gente que eu me apaixono. Depois que eu me apaixono pelo o que ela é e vejo que ela tem uma potência subjetiva em si, vejo que ela tem uma persona, eu tento cativar ela pelo olhar mesmo, e pelo olhar ter esse brilho, ser esse espelho, são sinais que chegam.
No momento de filmar eu sou a cineasta, eu separo. E não é que eu deixo de ser a Everlane, ou passo a ser uma pessoa ruim ou hierárquica, não. No momento de filmar, eu estou para filmar. E convenço meus personagens a estarem também para o filme, porque o filme a partir de agora também é deles, não é só meu, é responsabilidade deles também. O filme é nosso. O momento da gravação é uma coisa tão séria e tão visceral pra mim que as pessoas entendem. Neste momento, tenho meus pudores, mas não tenho pudor para que o filme funcione. Existe um profissionalismo incluso, as pessoas são muito profissionais. Elas podem ser profissionais do cinema também, qualquer pessoa pode fazer um filme, ser ator, ser diretor, basta estar comprometido com aquela atividade. Eu mantenho o contato esporádico com as pessoas que gravo. Eu não estou para modificar a vida delas, nem pra trazer o dinheiro que elas não têm, não tô pra trazer nada disso. Eu encontrei elas daquela maneira e deixarei elas daquela maneira, o que eu puder ajudar com a minha mínima possibilidade, eu ajudo. E acho que já estou ajudando quando tiro elas da rotina, quando eu trago pra elas algo novo, quando eu dialogo com elas e faço elas se verem nas suas telas. De alguma maneira trouxe alguma coisa na vida delas, que durou aquele momento e não durará mais, porque eu sigo avançando pra encontrar com outras pessoas…
L: E elas também, né?
E: E elas também. Então, a relação do dinheiro, eu dou sempre o dinheiro depois, mas eu dou um dinheiro. Geralmente porque a pessoa passou quatro dias comigo, deixou de trabalhar, de fazer sua atividade. Ou então eu compro a mercadoria dela ou eu faço todo mundo da equipe comprar também. Ou eu posso dar em roupa, posso dar em material, mas eu sempre tento pagar meus personagens. Ou às vezes não, porque eles não querem. É uma questão de ética de sempre manter a relação de proximidade e distância necessária. É uma paixão, mas é uma paixão somente por uma pessoa boa, é uma paixão pelo personagem, pela possibilidade que aquela pessoa tem pra determinada coisa, pra esse material.
Mas tem que medir essa questão da paixão, porque você pode cair numa paixão louca por uma pessoa e você não conseguir extrair dali nada e o personagem dominar, o personagem te dominar, dominar o filme. Você tem que ser muito forte, porque o filme é seu, a motivação é sua. Você que tem que saber o que tem que ser feito, a pessoa não tem compromisso nenhum com isso, né? Ela tava vivendo a vida dela e de repente você chegou. Se você chegou pra modificar a vida delas, modifique, faça a “pincha”, faça seu filme e depois vá embora. Eu tenho isso muito claro, não fico com esse sentimento do “Ah, meu Deus, e agora? Eu fiz um filme e meu filme não vai ajudar em nada a Monga [personagem de Monga, retrato de café] ser uma mulher e conseguir sair dessa condição”. Claro que não, e eu não tô numa posição tão boa também. Ou seja, Monga é linda e maravilhosa, é resistência e continua sendo resistência. Eu a encontrei assim, eu a registrei assim e espero que Monga vá até onde ela possa ir nos esforços dela e na caminhada dela. Porque não tenho essa visão meio paternalista de “Ah, quero modificar o mundo e…”. Não, eu quero modificar as pessoas, deixar uma sementezinha plantada em cada pessoa, depois eu exibo o filme, cada pessoa sai com uma sementezinha plantada e multiplica. É trabalho de formiguinha. Mas nada de representar o mundo, representar todo mundo, modificar, nada disso. Eu não tenho essa pretensão toda. Tenho a vontade de transformar o mundo, mais todo cuidado pra não me frustrar, pois pode ser que eu não consiga… mas creio que já estou conseguindo, pois cada filme é uma semente de reflexão, espiritual e política.
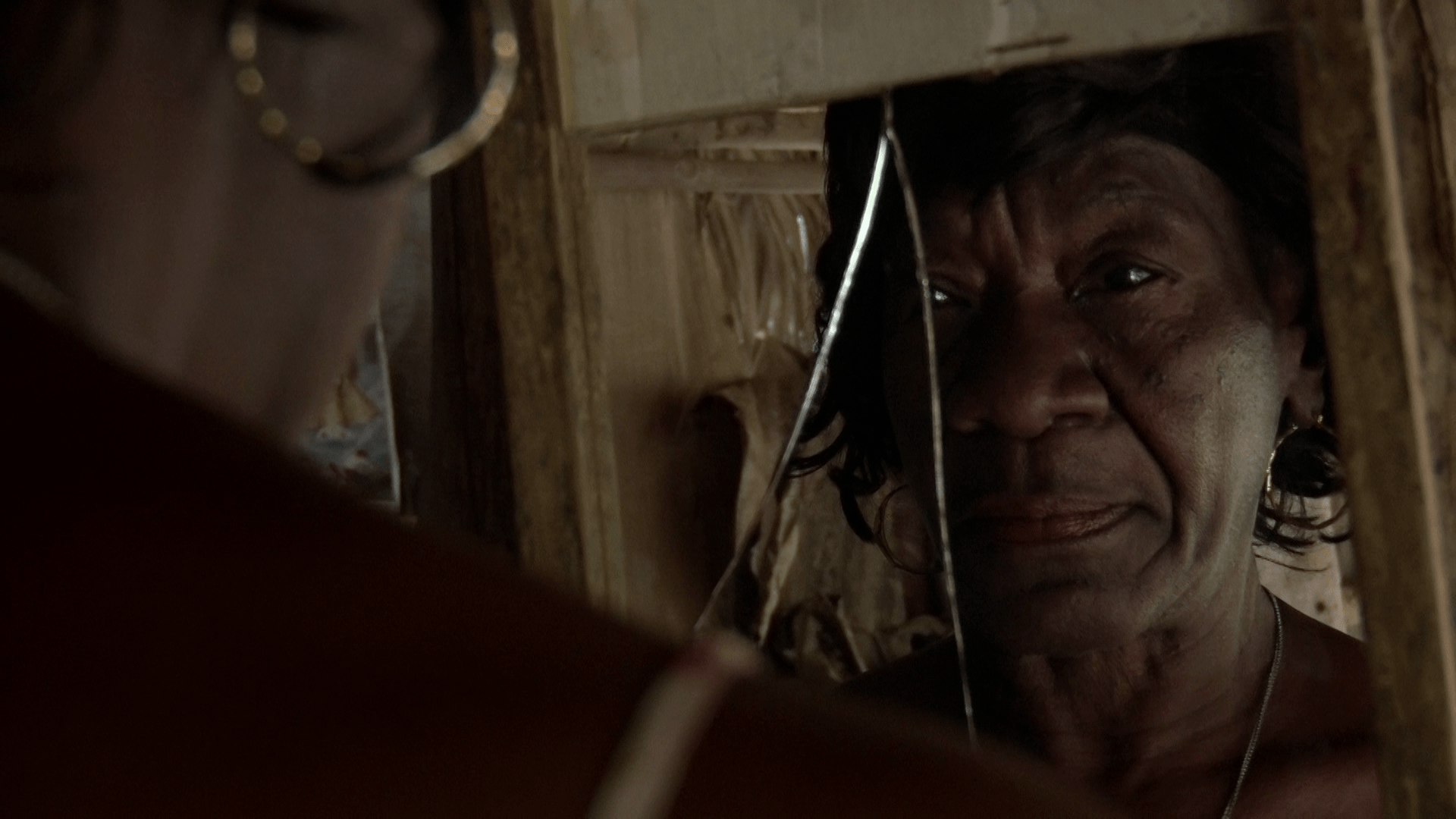
Monga, Retrato de Café (2017)
L: Por que o documentário?
E: Pra mim o documentário é A plataforma, eu gosto de assistir documentários, porque eu aprendo, eu vivo também com os personagens, com aquela realidade. Eu acho que o documentário é uma plataforma extremamente livre, de formato, o documentário pode ser o que ele quiser, não deve nada, não deve explicação. Eu gosto da metodologia dos documentários — que é diferente da ficção, que requer uma metodologia um pouco mais controlada. Eu tenho muitas questões em relação a trabalhar em filme de ficção, mas eu trabalho. O filme de ficção tem que ser muito bem feito, uma palavrinha de atuação falada mal, um objeto de arte feio, uma coisa feia na cenografia me tira do filme de ficção… Eu fico muito atrelada às artimanhas para fazer um filme, tem que tá muito bem feito, eu tenho que tá muito dentro da história para eu conseguir assistir um filme de ficção. A maioria dos filmes de ficção, alguma coisa me tira da narrativa, porque eu fico prestando atenção em algum erro. Diferente do documentário que não tem erro e não tem acerto. Por mais que você assista um documentário não tão bom, você sempre aprende algo. Acho o documentário muito mais completo, acho que ele garante muito mais todas essas logias dentro dele. Eu acho realmente o cinema de ficção um “porre”, mas um “porre bom”, também é muito lindo, muito maravilhoso.
L: Você acha que você gosta da investigação?
E: Da investigação, do contato com as pessoas, de usar “não atores”, de registrar o cotidiano, a vida social, como ela é mesmo, os erros, os acertos, os acasos, né?
L: Eu gosto muito de documentário e o que me fascina no documentário é a possibilidade de maquiar a realidade e, ainda assim, ser a realidade. Eu gosto de brincar que o documentário é tudo aquilo que você quiser fazer, é tudo que tiver jurisprudência… Se eu tô falando que é documentário, isso é documentário.
E: Eu gosto disso que me deixa fluída no documentário, que é você não sabe o que você vai filmar, e como isso vai passar, e talvez o que você planejou não vai dar. Adoro esses desafios constantes do documentário e às vezes você filma uma coisa, e que bom que você tava com a câmera ligada, se você não tivesse, você ia perder, porque só você viu aquilo e registrou aquilo. Não existe segundo take para algumas coisas. O documentário é desafiador porque ele é a própria vida, que segue, que passa em frações de segundo, o tempo todo e você é muito pequeno, o ser humano é muito pequeno. Eu adoro esse desafio de não poder fazer esses dois takes, de não ter que ensaiar para alguma coisa, de estar o tempo todo ali sendo sacudida. Eu gosto desses estímulos que o documentário me possibilita na vida mesmo. É isso, eu gosto de aventura, acho que o documentário é um lugar de aventura.

Aurora (2018)
L: É, que você não tem o controle…
E: Total e absoluto não né, mas tem. Agora eu trago um pouco da ficção pro meu documentário também. Se bem que às vezes eu acho que não tem tanta diferença entre a ficção e o documentário. Acho que a diferença é a indústria, que deu esse estrelismo para os atores de Hollywood. Trouxeram esse glamour pra ficção e esse glamour que me atrapalha, mas acho que não é muito diferente não, acho que se controla aqui, se controla ali.
L: La Santa Cena, por exemplo, você pode ver ele e achar que é uma ficção tranquilamente.
E: Com certeza, com certeza. Eu até já assumo que pode ser uma ficção.
L: O Aurora também.
E: Eu já assumo, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu parto de motivações muito documentais. Na verdade, é a documentação da interpretação e fabulação das pessoas “normais” diante de uma câmera. Não deixa de ser um documento, documentar algo diante da câmera. Tudo é documentário, algo esteve diante da câmera, isto é um documento, um fato real, não é? Por exemplo, a Monga é a Monga, mesmo Monga tendo seu personagem, sua persona. Quando eu cheguei lá, ela colocou essa peruca e ela tem o personagenzinho dela da madame. Eu vou dizer que Monga não é Monga? Cheguei e Monga já não estava querendo ser Monga, já estava fabulando a si mesma, não é que isso não vai ser documentário, eu tô documentando uma pessoa que está fabulando a si mesma, né? Um ser que naquele momento era aquilo, tava querendo ser aquilo. É documentário, nós também todo o tempo queremos ser alguma coisa ou vestimos personagens. Em casa somos alguma coisa com a mãe, com os amigos a gente é outra coisa. No trabalho a gente é outra coisa, na hora de filmar a gente é cineasta, quando termina de filmar a gente é outra coisa. Qual é o problema? Quer dizer, só é ficção o que tá na frente da câmera? E o que tá por trás também que também é uma ficção? Ou seja, também é uma discussão. E por que a gente se limita tanto? Por que se limitar? Eu não consigo entender por que as pessoas se limitam. No meu caso, o filme tá livre pra que as pessoas nomeiem ele da maneira que quiserem. Não tenho problema nenhum, não vou entrar em crise.
Mas enquanto autora, enquanto criadora do método, eu digo: “Eu faço documentários”. E quando eu digo que faço documentários, eu digo que eu faço filmes, quando eu digo que eu faço filmes eu tô levando em consideração todos esses elementos aí dos outros gêneros. Quando eu digo que eu faço documentários, é porque dentro de mim existe uma documentarista nata! Agora, também existe uma artista que vem das artes plásticas e traz essa manufatura mais ficcional, traz essa plasticidade mais ficcional. Eu sou uma documentarista nata porque eu sou uma pessoa da cultura, eu sou a pessoa da rua, eu sou uma pessoa da análise sociológica, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de psicologia, de filosofia, de fabular coisas, de teorias. Acho que essa mescla de coisas que faz meu cinema ser híbrido.

Pattaki (2019)
L: Para fechar, quais são suas referências cinematográficas?
E: Eu gosto muito de Sara Gómez, uma cubana, que pra mim parece uma mulher extremamente revolucionária, maravilhosa, de uma sensibilidade que não existe, eu sou fã da Sara Gómez, embora tenha uma filmografia muito pequena, porque ela morreu muito jovem. Eu adoro o Spike Lee, tenho muitas críticas ao cinema dele também. Essa posição de homem e tudo mais, tenho muitos problemas com o Spike Lee, mas acho ele de uma linguagem extremamente original, esse cara é um gênio. Eu gosto muito do Zózimo, principalmente por Alma no Olho. Não tem uma filmografia muito assim “Ohhhh” e tal. Mas por sua atitude, por ele ter sido o ator que ele foi, por ele ser um defensor do Cinema Negro como ele foi, uma figura muito representativa pra gente. Eu gosto de Yves [Yves Saint Laurent], que é esse documentarista que é bem minha cara, eu gosto muito dele. Ele fez filmes de sinfonia, sinfonia da cidade, muito musicais, são documentários muito elevados à poesia e tal. Yves eu acho maravilhoso.
Eu gosto muito de várias mulheres negras contemporâneas, como a Viviane Ferreira, a Larissa Fulana de Tal, Joyce Prado, Renata Martins, Taís Amordivino, Safira Moreira, Juh Almeida, várias. Acho que fazem cinema muito potente, muito centrado, ao mesmo tempo de conteúdo e de forma muito bem equilibrada. Tamém tem os cineastas negros David Aynan, Vinícius Silva, Gabito (Gabriel Martins), André Novais, Diego Paulino. São cinemas diferentes, mas cada um com seus erros, acertos, suas obsessões, enfim, suas existências e subjetividades.
Eu gosto muito do Vertov, do surgimento do cinema, embora seja muito branco também, mas eu gosto de assistir esses primeiros experimentos do cinema, diretores que estavam muito em nível de conceito e tal. Ou seja, aquela coisa, eu consigo aproveitar qualquer linguagem dessa e trazer pra negritude, esse é o meu diferencial. Eu não tenho essa crise não. Porque foi feito por branco, eu consigo separar o joio do trigo, consigo tirar o que do branco nos serve e aproveitar… Gosto muito da Varda… são mulheres brancas também, mas bom, são mulheres sensíveis, né? Tem Jordan Peele aí que tá me impressionando com seu cinema.
L: Bom, acho que chegamos ao fim. Você quer acrescentar alguma coisa?
E: Acho que meus filmes refletem um pouco de como minha cabeça funciona. Minha cabeça funciona a mil, meus olhos funcionam a mil, é muito latente essa coisa do fazer artístico, da ancestralidade na minha família. São muitos estímulos à arte desde pequena. Eu não sei fazer outra coisa na vida, eu me sinto muito confortável dentro do cinema, fazendo o que eu faço. Às vezes eu tento até fugir um pouco dele porque eu me pergunto: “Será que não tá muito conceitual, Everlane?”, “Será que você também não consegue se despir de algumas coisas e experimentar outras?”. Mas eu gosto dele, então, eu vou continuar fazendo esses filmes que eu chamo de experimentos estéticos. Eu adoro colocar a gente nesse lugar, eu adoro quando tem pessoas que, historicamente, socialmente, ou que no nosso imaginário coletivo são pessoas que são incapazes de estarem nesse lugar. E de repente eu pego elas e coloco no lugar de conceito, de filosofia, de logia, extremamente complexo e sofisticado.
Eu adoro quando coloco essas mulheres num lugar tão sofisticado. Pra mim isso é um tapa, é um murro na cara do branco, porque eu sei que eu tô falando com o branco, eu sei o que eu tô atingindo dele, eu sei a raiva que ele tá de mim, eu sei que eu sou um mistério pra ele. Primeiro que minha estética, minha idade e de onde eu vim, seria impossível fazer um cinema tão conceitual como esse, tão engajado e tão firme, né? Que consegue falar com ele de maneira horizontal ou até acima, em uma posição que ele não está acostumado. Eu sei onde meus filmes são bons, em relação aos filmes brancos, eu sei onde eles nunca vão conseguir fazer igual, né? Então, eu gosto muito desse lugar, que pega o nosso que é tão simples, cotidiano e tão estigmatizado dentro de um lugar considerado pequeno e trazer ele pra um lugar extremamente conceitual, de nível altíssimo de filosofia, de logia. Sei onde eu atinjo o branco com isso, onde o branco fica com muita raiva, onde o branco consegue a partir daí compreender como a sua antropologia é uma antropologia de merda, sabe? O quanto a sua antropologia reflete o seu caráter, e a sua malvadeza, sabe?
Então, quando eu faço esses filmes eu estabeleço uma “nova” antropologia visual contemporânea. Eu sei que nenhum antropólogo conseguiu representar o negro dessa maneira, dando esse cárater de sujeito, como eu tô dando. É uma maneira de contribuir, dialogar diretamente com essa crítica que eu faço às imagens do negro na contemporaneidade. De dialogar com o Fanon, com a literatura das mulheres negras, com Racionais, com Virginia Rodriguez, Zezé Motta, Léa Garcia, Beatriz Nascimento, Nina Simone, Milton Nascimento, Arthur Bispo do Rosário, Belkis Ayón, Bob Marley, meu pai, meus ancestrais. São muitas possibilidades, em todos os meios, linguagens, logias possíveis onde nós negros somos plenos. É aí que eu bebo.

Set de filmagens de Aurora (2018)
L: É de dentro, né?
E: É tudo isso. Me modifica. Botar um pouquinho de cada coisa nos filmes, pra ver nossa beleza. Me faz achar que realmente estou fazendo a coisa certa. Ainda bem que eu não sou aquele tipo de negro que não tá ligado nisso, ou seja, que bom que desde muito cedo eu consegui ter a possibilidade de estar nesse lugar hoje, sabe?
L: Acho que isso tem muito a ver com a maturidade do seu trabalho.
E: Às vezes eu penso como deve ser triste ser um negro sem contexto, sabe? Eu sou tão brasileira e tão negra que meu cinema não poderia ser diferente. E de maneira autoral, eu faço o cinema que eu gosto de assistir. Eu gosto de saber que pessoas que não assistem esse tipo de formato assistiram meus filmes, eu gosto de estabelecer esse “novo” tempo no cinema, esse “novo” silêncio, esses corpos bem fotografados, essa plasticidade gigante. A gente tá acostumado a ver negros ou certas condições sociais filmadas de maneira que essas imagens não fiquem bonitas porque a gente precisa da coisa feia pra sustentar certo discurso. Por que quando a gente filma a pessoa na feira a gente tem que filmar com a camerazinha meio tremida, não pode ser uma câmera melhor, tem que ser com uma câmera mais simples? Parece que tem que tá cru e feio. Então, essas coisas me atrapalham muito, porque eu acho que dá pra filmar com uma RED [câmera de cinema profissional] um feirante, sabe? Acho que a beleza é fundamental e me incomoda muito esse lugar da filmagem precária ou da imagem precária. Mesmo na precariedade a gente também é bonita, pode ser bonita, pode ser melhor valorizada, sabe? Na verdade, acho que não é nem uma questão do dispositivo, é uma questão de olhar, de respeito, de responsabilidade, de ponto de vista. A beleza está dentro das coisas, dentro de nós, que olhamos. Penso assim, são coisas que podem se modificar ao longo do tempo, com minha carreira. Mas é isso, não tenho nenhum tipo de pudor de juntar as artes plásticas com o cinema e pintar, e pintar no cinema. Eu sou uma artista plástica e cineasta ao mesmo tempo.
*
O OLHAR COMO ATO DE CRIAÇÃO DO MUNDO
Em 2020, na ocasião da Mostra de Cinema de Tiradentes, tive a oportunidade de conhecer a diretora Viviane Ferreira, diretora do longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020). Dentre essas poucas conversas que tive a felicidade de ter com ela, alguns de seus questionamentos me marcaram, me desafiaram. Lembro que ela pensava bastante no lugar da crítica, e de uma crítica negra, e na relação de velhas e novas críticas com os filmes que surgiam – e filmes como o dela, que surgem a partir de cosmovisões pouco vistas e da consolidação de demandas políticas construídas ao longo de anos e anos.
Uma de suas indagações ficou comigo, depois daqueles encontros: que gramática, que aproximações a crítica de cinema pode construir a respeito dos cinemas negros de hoje e dos que virão – e quais olhares surgem a partir de uma crítica que se localiza também como negra nesse ecossistema das imagens e das palavras sobre as imagens? Se o cinema negro é um projeto em construção, como afirmou Janaína Oliveira há alguns anos1, as críticas negras o são também, e caminham com os filmes em um processo múltiplo e espiralar, no qual idas e vindas, aberturas e composições podem engendrar poéticas e políticas.
Dentre as várias perspectivas possíveis para dialogar com Um Dia com Jerusa, escolhi olhar a partir de autores negres e/ou brasileires, que têm como referência as cosmovisões afro-brasileiras. Parto das pistas que o próprio filme traz, e me permito passar por ele, decifrar, buscar rimas e consonâncias com filosofias que me ensinem outras formas de imaginar.

Tecido, textura
O longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020), de Viviane Ferreira, traz novamente Léa Garcia e Débora Marçal nos papéis de Jerusa e Silvia, personagens que primeiro surgiram no curta-metragem O Dia de Jerusa (2014), da mesma cineasta. Aqui, a diretora reinventa a relação entre as duas personagens para fazer emergir novos atravessamentos. Silvia, jovem negra, médium e historiadora, aguarda o resultado de um concurso público enquanto trabalha fazendo pesquisas para uma empresa de sabão em pó. Ela acaba batendo à porta de Jerusa, mulher negra, idosa, que vive sozinha na região do Bixiga, em São Paulo, e que no dia de seu aniversário acaba enredando Silvia em sua casa, em suas histórias e, por fim, em sua vida. O filme elabora aberturas e passagens entre dimensões – visível e invisível, esquecimento e memória, presença e ausência – que compõem a malha subjetiva da população brasileira, de subjetividades compostas tanto pelos processos violentos que vivemos desde o sequestro dos povos africanos durante a colonização portuguesa nas Américas, como por cosmovisões que vêm resistindo a essa violência, trazidas pelos sobreviventes da travessia do Atlântico, e transformadas por seus descendentes.
“As culturas negras que matizaram os territórios americanos, em sua formulação e modus constitutivos, evidenciam o cruzamento das tradições e memórias orais africanas com todos os outros códigos e sistemas simbólicos, escritos e/ou ágrafos, com que se confrontaram. E é pela via dessas encruzilhadas que também se tece a identidade afro-brasileira, num processo vital móvel (…)”
Leda Maria Martins2
Tecido e textura. Falas e gestos. Interação. Coreografia. São palavras que surgem quando Leda Martins pensa a identidade afro-brasileira, em suas constantes transformações e reatualizações. O dinamismo dessas formações e a força de seus enraizamentos não combinam com a estereotipia e a ausência que marcam os aparecimentos de povos e pessoas pretas nas imagens cinematográficas brasileiras. Também nos foi reservado, na História com H maiúsculo, o lugar de quem é olhado, e raramente o de quem olha. Nos dias de hoje, diversas artistas têm buscado fracionar essa história, colocar-se entre as frestas. Nesse contexto, a cineasta Viviane Ferreira é uma das poucas mulheres negras que dirigiram um longa-metragem no Brasil. Não à toa, ela faz das ausências o ponto de partida para a construção de presenças politicamente implicadas.


No início, podemos notar aparições que deslocam os imaginários a respeito das pessoas negras que povoam o Brasil; aqui, em específico, a região do Bixiga, na cidade de São Paulo. Silvia é uma jovem que estuda para concursos, e vemos na tela de seu computador que tem uma professora também negra, que ressalta em seu discurso a subversão que é existir como mulher preta no Brasil. As pessoas que cruzam as ruas são retratadas com dignidade: as duas amantes na rua, o catador de recicláveis e o declamador de poesias surgem sorrindo, parte viva e constituinte da cidade. Aliás, todas as pessoas mostradas no filme, nas ruas e nas visões e histórias partilhadas por Silvia e Jerusa ao longo do filme, são negras. Em um mundo em que os filmes brasileiros não se constrangem em, muitas vezes, povoar suas imagens apenas – ou em maioria – com pessoas brancas, Viviane Ferreira constrói um mundo inverso para tornar visíveis as pessoas negras em sua multiplicidade.
Jerusa compra, então, uma filmadora e aponta para o declamador, que fala como um griô, ainda que tenha um livro nas mãos. Ele recita o poema As mãos de minha mãe, da escritora baiana Lívia Natália:
“Nos dedos vincados de veias grossas,
na curva que se enruga no mais preto das dobras
as mãos de minha mãe perfazem os caminhos de meu mundo.
(…)
As mãos de minha mãe, cada vez mais idosas,
guardam, em suas linhas, o segredo de nosso destino,
elas se cruzam no ventre da espera, e nasce
sempre feliz, sempre feminino.”
Lívia Natália3
Vemos o enquadramento de Jerusa, que empunha a câmera; ouvimos o poema declamado, que indica o poder fundante da voz. O filme avisa que conheceremos Jerusa através do que ela dá a ver ou esconde em atos de criação do mundo.
Outras presenças/ausências emergem, muitas vezes em um só corpo: descobrimos que Silvia é uma jovem homossexual em um relacionamento escondido da família. Através dos momentos em que experimenta transes, Silvia converte em visibilidade os apagamentos históricos. Enquanto escuta a coordenadora de seu trabalho falar sobre o Bixiga, Silvia nos dá a ver, em transe, um festivo carro da escola de samba Vai-Vai subir a rua. A Vai-Vai reivindica a vanguarda dos negros na constituição da região4, contra o discurso hegemônico de que seus primeiros habitantes teriam sido imigrantes italianos. Quando as duas protagonistas finalmente se encontram, Jerusa começa a narrar as histórias da família, ligadas à Vai-Vai e ao rio Saracura, um dos rios invisíveis, canalizados, que correm por baixo da cidade de São Paulo.

As populações negras que fundaram o Bixiga buscavam a proximidade com o rio que, quando corria visível, servia às lavadeiras e às crianças pretas que as acompanhavam. É a partir da pergunta sobre lavagens de roupa que Silvia, sem querer, aciona as memórias de Jerusa, que acompanhava a avó nas lavagens no Saracura. Ao desfiar sobre o rio, Jerusa atrai Silvia para a correnteza, para dentro da casa, para um espaço-tempo que identifico com a ideia de encruzilhada.
Interseção, ponto nodal, encruzilhada
Volto a Leda Martins para melhor definir – ou abrir – o conceito de encruzilhada, que me ajuda a pensar no visível e no invisível que se apresentam no filme, nas existências materiais e imateriais, naturais e sobrenaturais que compartilham o mundo:
“A cultura negra é uma cultura das encruzilhadas.
Nas elaborações discursivas e filosóficas africanas e nos registros culturais delas também derivados, a noção de encruzilhada é um ponto nodal que encontra no sistema filosófico-religioso de origem iorubá uma complexa formulação. Lugar de intersecções, ali reina o senhor das encruzilhadas, Exu Elegbara, princípio dinâmico que medeia todos os atos de criação e interpretação do conhecimento. Como mediador, Exu é o canal de comunicação que interpreta a vontade dos deuses e a eles leva os desejos humanos. Nas narrativas mitológicas, mais do que um simples personagem, Exu figura como veículo instaurador da própria narração. ”
Leda Maria Martins5
Essas dimensões da existência, no entanto, não podem ser compreendidas a partir de uma visão ocidentalizada dicotômica, de dualidades que se opõem, não se cruzam ou não se afetam. Se, como afirma Martins, a encruzilhada é um lugar de intersecção, regido por uma energia mediadora e canalizadora, essas dimensões estão intrinsecamente ligadas, afetam e constroem uma à outra. “Operadora de linguagens e de discursos” e “produtora de sentidos”, a encruzilhada em Um Dia com Jerusa é a abertura que surge do encontro entre Silvia e Jerusa, para uma oralidade que aciona a visão, para uma visão que aciona história, e uma história que aciona uma passagem.

Silvia é sensitiva, médium, mediadora: através de seus transes as histórias desfiadas por Jerusa se traduzem em imagem. À medida que enreda Silvia em suas histórias – e não por acaso, cada vez mais “para dentro” da casa –, notamos que Silvia e Jerusa não estão sozinhas. Alguns enquadramentos sugerem que há presenças ali para além das duas. O espectador também pode se localizar pela perspectiva dessas presenças. Não só como quem olha de fora, mas como é convidado a observar de perto. O contato com as presenças invocadas pela narração de Jerusa faz com que Silvia possa de fato ver – e nos dar a ver – imagens de vidas ancestrais, de resistência e criação.
Ao contar a história da avó e de como herdou seu nome, Jerusa versa sobre a oralidade como ferramenta de sobrevivência: “Anunciação era também o nome de minha avó. Maria Jerusa Anunciação. Ela não era registrada e nem letrada. Mas sabia enganar os letrados”. Ela continua: “Mãe contou” – e aqui Jerusa insere outra narradora que toma parte no tecer de sua vida – “que vovó era negra ladina. Fugiu do senhor que a tinha como propriedade e se apresentou para um outro que a marcasse como de aluguel”. Ela conta então que a avó se apresentou ao novo senhor como Maria Jerusa Anunciação: Maria, como a mãe de Deus, Jerusa, como em Jerusalém, e Anunciação, porque estaria destinada a anunciar o retorno de Jesus. Através da impressão de que compartilhava com o opressor da fé dos brancos, Maria Jerusa o convencera a pagar pelos serviços de lavadeira. Aqui, Jerusa repassa uma sabedoria dialógica – que se mistura a uma subversão do feminino –, um saber do qual a avó se serviu para subverter o sistema escravista e forjar, aos poucos, a própria liberdade. Diante de momentos de inflexão, de encruzilhadas, mais que sobreviver ou resistir, as antepassadas que Jerusa evoca forjaram outros futuros :
“Os sobreviventes podem virar ‘supraviventes’: aqueles capazes de driblar a condição de exclusão, deixar de ser apenas reativos ao outro e ir além, afirmando a vida como uma política de construção de conexões entre ser e mundo, humano e natureza, corporeidade e espiritualidade, ancestralidade e futuro, temporalidade e permanência. (…) Mas o salto crucial entre a sobrevivência e a supravivência demanda um conjunto de estratégias e táticas para que saibamos atuar nas batalhas árduas e constantes da guerra pelo encantamento do mundo.”
Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino6
A supravivência marca todos os atos de narração de Jerusa. O filme não esconde, porém, a presença das ausências: Silvia e Jerusa compartilham, junto a inúmeras famílias negras brasileiras, a dor de perder um ente querido para a violência da polícia e do tráfico. Essas aparições perpassam o filme de forma repetida, como é repetido o luto. Não precisamos ver a violência que os vitimaram. Viviane Ferreira demonstra mais interesse em construir outro repertório imagético sobre vidas pretas.


Tomo como exemplo a bela prosa de Jerusa sobre o avô, o negro Pizzolato, que vemos através da tradução sensitiva de Silvia. Era um somali chamado Aberia, que se tornou assistente de um fotógrafo italiano em expedição no chifre africano. Após o falecimento do italiano, Aberia era o único que sabia manusear os equipamentos de fotografia. Passou então a ser chamado de Pizzolato e voltou para a Itália com a expedição. No início da imigração dos italianos para o Brasil, chegou ao país em condição bem diferente dos negros que mal tinham saído da condição de escravizados. Uma vez no Brasil, casou-se com Maria Jerusa, a avó de Jerusa. Ensinou-a a fotografar. “A sua avó era fotógrafa ou lavadeira?”, pergunta Silvia. “Vovó era tudo que precisava”, responde Jerusa. A estratégia de supravivência garantiu uma nova vida ao casal (os avós), em São Paulo, e marcou a família com a herança da fotografia, que preenche toda a casa de Jerusa – também herança dos ousados avós. A fabulação proposta pela roteirista e diretora Viviane Ferreira dialoga com o apagamento da ancestralidade de grande parte da população afro-brasileira, que em muitos casos não possui fotos ou registros dos antepassados, nem conhecem suas histórias.
Água, correnteza, mpámbu anzila
Lá no início do filme, quando conhecemos Jerusa, escutamos o aviso: “eu acho que hoje as águas vão lavar tudo”. Em certo momento, realmente chove, e quando um sino revela que as águas do rio invisível subiram, Silvia é convidada a adentrar ainda mais a casa Jerusa. Na parte mais baixa da construção, há um poço. “Depois da canalização, vovô construiu esse poço e disse: ‘na minha casa, o rio tem como respirar”’, diz Jerusa. O apagamento e a submissão da natureza na cidade de São Paulo, aqui representado pela história de apenas um de seus dos rios canalizados, coincide com o apagamento e invisibilidade dos povos que habitavam suas margens e usufruíram de suas águas.


Jerusa narra: “A vovó contava que o velho Saracura era a salvação de quem buscava alimentar a liberdade. Fui batizada nas águas do Saracura. E nele, aprendi a nadar. Em suas margens, mamãe me ensinou a fotografar os pássaros de pernas finas comedores de goiaba. ” Na voz, o carinho pelo significado cosmológico e afetivo do rio. Na imagem, as águas transparentes e o peixe que nada mostram que o rio está vivo. Nos diz Makota Valdina:
“Então, existe o mundo visível, natural, onde nós habitamos, e o mundo invisível, sobrenatural, espiritual, o mundo habitado pelos ancestrais. Só que nesse nosso mundo natural que nos cerca está também o mundo sobrenatural. (…) vocês podem até não acreditar, mas tem mais gente além de nós aqui, nos ouvindo, nos olhando, tem energias aqui, conosco, interagindo. Então, todas as nossas interações ocorrem nesse mundo, nesse nosso plano natural. A gente interage com o mundo sobrenatural é nesse plano; a gente não tem que esperar para ter vida espiritual, nem estar em contato com o que é espiritual depois da morte, não.”
Makota Valdina7
A interação com o sobrenatural mediada pela relação com a natureza é parte fundamental das cosmologias negras na diáspora de origem ioruba e banto. Fonte de vida e fonte de visão. Há na casa de Jerusa um poço e uma sala de revelação fotográfica. As águas revelam imagens. Jerusa, em mais um ato instaurador, compartilha através da câmara escura da sala uma outra imagem da cidade, uma em que rios e pessoas invisíveis coabitam. Mais do que contar a própria história, Jerusa ensina Silvia a entrar em contato com o que é “para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir”, como já disse Mestra Pedrina dos Santos8.

Retorcer a imagem, colocá-la de cabeça para baixo, para ver de outra maneira. Tal proposta diz respeito também às imagens do passado: ver de outra forma o passado, cultivar o presente e construir o futuro. Diz Jerusa: “O cultivo é o melhor professor. Se você cultiva o esquecimento, alimenta a lembrança da dor para se convencer que tem que esquecer. Se cultiva a memória, pode escolher alimentar a dor ou o impulso da liberdade.”
Todo o discurso de Jerusa me parece um longo convite para que Silvia também habite o espaço-tempo da encruzilhada. O sangue que desce entre as pernas, a saia, o cabelo trançado: Silvia passa por uma espécie de iniciação em um tempo suspenso no qual Jerusa transmite o que ela precisa conhecer para seguir – no emprego, no relacionamento, na vida. Silvia abraça a encruzilhada. Para a Mestra Makota Valdina, mpámbu anzila.
“Estar em mpámbu anzila é estar numa encruzilhada, o que significa estar num ponto de tomada de decisão e isso vale para tudo. A todo momento estamos em situações de decidir o que temos que fazer, o que queremos fazer, que rumo tomar. Nem sempre as escolhas que cada um faz é a mais certa e adequada, e assim, tem-se que assumir as consequências das escolhas feitas.”
Makota Valdina9
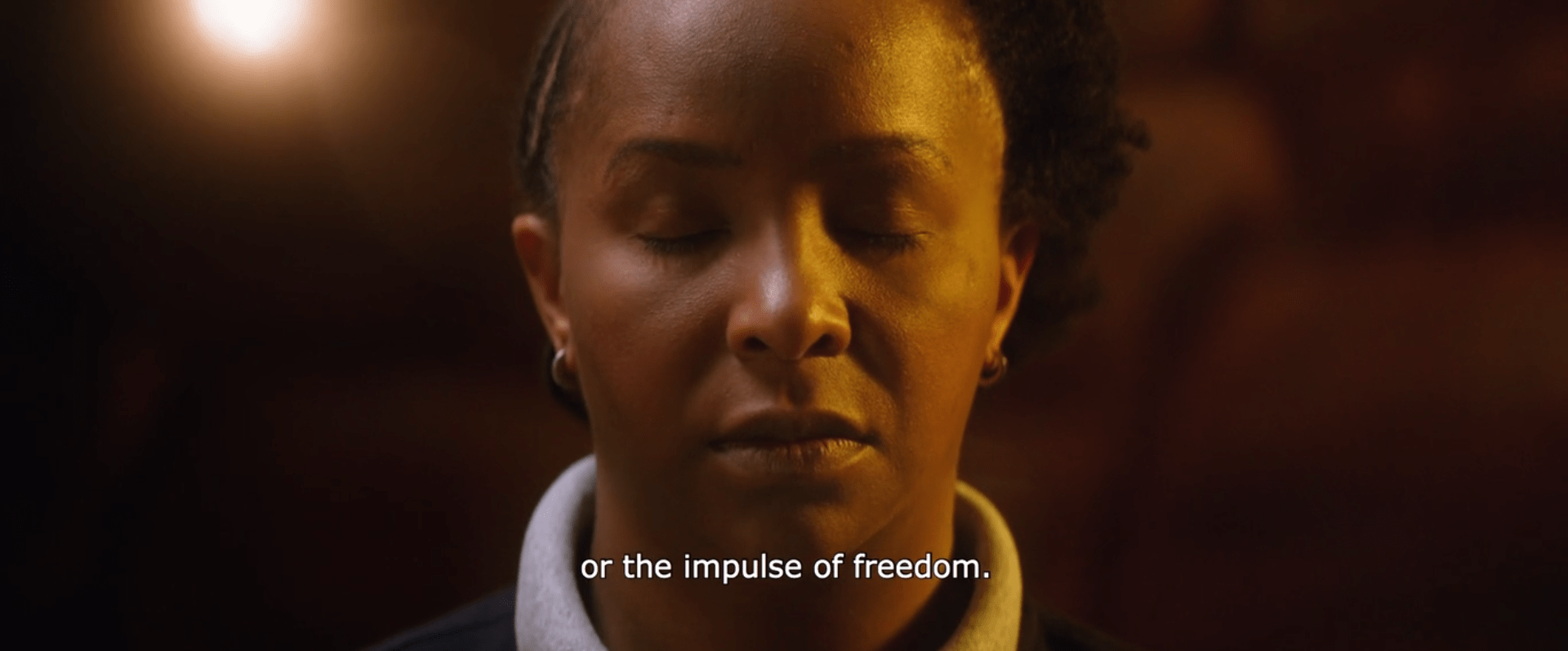
Silvia descobre, ao encontrar o quarto de Jerusa, que não foi a única que habitou aquele espaço-tempo. A coleção de fotos sobre a parede nos mostra que Jerusa fazia dos aniversários momentos em que driblava a solidão para formar laços inesperados. Movida por Exu ou mpámbu anzila, pela oralidade e pela história, Jerusa guia Silvia e espera as águas. Quando a jovem encontra o jornal com o resultado do concurso, vê que foi aprovada e corre para contar à nova mestra. Encontra o corpo de Jerusa, que repousa tranquilo, inerte. O esquecido formulário de pesquisa de sabão em pó fora preenchido. Uma foto de Jerusa com o misterioso jovem que vemos durante todo o filme é deixada, como uma carta de despedida. O dia de nascimento se torna o dia da morte – ou do renascimento para outro plano de existência. Silvia e Jerusa atuam, então, como facilitadoras dos caminhos uma da outra. Desfeito o nó, atravessada a encruzilhada, Jerusa pode seguir em paz. E eu, permeada de sentidos e sensações, posso seguir em frente, em busca de outros olhares para outros cinemas.

CINEMA DE MULHERES DA BEIRA DO RIO MADEIRA
Foto: Marcela Bonfim
11 de abril de 2021 foi o último dia da primeira edição do Guaporé Festival Internacional de cinema ambiental, festival criado este ano em Porto Velho, capital de Rondônia, via lei Aldir Blanc, uma iniciativa de Raissa Dourado. De São Francisco (EUA), onde vivo agora, acompanhei esse festival online com um entusiasmo especial. Escutei as vozes das pessoas realizadoras1, comentei no chat e assisti aos filmes locais desejando que eles fossem diferentes. A rapidez dos cortes, a temporalidade das imagens, o excesso de música sobre os sons, o desencaixe entre o ritmo dos filmes e as vidas que eles fazem vibrar em quadro me atravessaram com estranhamento. Busquei nesses filmes o tempo. Desejei um respiro antes de passar para a próxima imagem. Pedi silêncio. Estava constantemente esperando o momento fílmico em que seria possível ser tocada pelos sons ambientes que deveriam, ao meu gosto, emergir daquelas imagens.
Mas os filmes me surpreendem e me mobilizam. Sinto que esses filmes, realizados majoritariamente por mulheres, anunciam um vento bom vindo das terras do norte. O festival, um evento virtual sem nenhuma relevância no âmbito nacional, surge, talvez, como um momento histórico da invenção do cinema rondoniense porvir. E tudo isso ativa, em mim, um desejo de retorno.
Deixei Porto Velho para estudar cinema há 17 anos. Graduação, mestrado, mestrado, doutorado. A passagem decisiva de uma língua para outra língua se deu estudando o violento filme Iracema, uma transa Amazônica (1976), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, durante um mestrado em Paris. Foi lá que desenvolvi minha formação cinéfila e fortaleci meu amor profundo pelo cinema brasileiro. Como se estar longe me aproximasse do nosso cinema. Algo próximo do que sinto agora, diante desse cinema rondoniense ainda tão precário, mas importante de ser notado.
Passei os dias seguintes imaginando conversas a respeito dos filmes, com as cineastas de Rondônia. Eu disse mentalmente para a Roseline Mezacasa, historiadora indígena que fez um filme com o povo Makurap, que a cena da pesca do filme Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018) está entre as mais maravilhosas da história do cinema dedicadas a essa ação. Os planos em que acompanhamos cada gesto do encontro do indígena com sua pesca são tão deslumbrantes que quase consigo esquecer, por um segundo, o quão destoantes soam as músicas que foram inseridas em boa parte do filme. Na conversa imaginária com Michele Saraiva, correalizadora do curta experimental Banho de Cavalo (2016), de Michele Saraiva e Francis Madson, falei que gosto da maneira como o filme dela se desprende da razão para expressar o sentimento estarrecedor que sempre nos atravessa ao percorrer as margens do deserto crescente que é a BR-364. Como a Michele Saraiva se ocupou da montagem dos documentários da Simone Norberto (Nazaré Encantada, 2018) e da Raissa Dourado (Vozes da Memória, 2019), nossa conversa imaginária se desdobrava da intensidade dos cortes do curta dela para a elaboração dos dois documentários, um tanto convencionais, que ela ajudou a dar forma. Em meio às conversas imaginárias aconteceu uma conversa de verdade, virtual, com Marcela Bonfim. Da sala da espaçosa casa de madeira, de onde Marcela tem uma vista privilegiada do pôr-do-sol do Rio Madeira, ela me descreveu euforicamente os quatro projetos de filme em realização. Todos já tem título. Dois deles já receberam um “boneco” (uma primeira estrutura na timeline), enquanto que, para os outros dois, “estar em realização” significa que parte de suas imagens já foram extraídas do mundo.
Inspirada por essas conversas, imaginárias e reais, fabulei um espaço de troca possível através da escrita. As conversas com as realizadoras acabaram acontecendo, por meio do que a tecnologia nos permite hoje, e pontuaram os caminhos tomados neste texto. E por que escrever a respeito de cinco filmes rondonienses feitos por mulheres e somente deles? O sentido de conjugar iniciativas fílmicas tão variadas se deve ao fato de todas elas se empenharem, a seus modos, na criação de imagens e sons habitados pela escuta, pela memória, pelo encontro, pelo desejo e, por que não, pelo encantamento da beira do Rio Madeira e das vidas nas florestas. Também me interessa o fato de que os filmes são realizados por mulheres que atuam, em diversas frentes, pela consolidação de uma cena cinematográfica local. Os filmes delas dizem alguma coisa das minhas investigações, eles são pontos de partida que me ajudam a me reencontrar. E este ensaio dedicado ao cinema rondoniense feito por mulheres, surge, para mim, como uma maneira de me aproximar de casa.
*
querer ver o que já não está
(notas sobre Banho de Cavalo, de Michele Saraiva e Francis Madson,
filmado em 2014, montado e lançado em 2016,
produção independente)
Às margens do pasto e da soja, há vida. Um cavalo no chão com as patas para o ar irrompe na tela logo após uma sucessão de planos mostrando aquilo que mais se vê nas estradas do Norte. Gado, máquinas, fumaça, carreta com gigantescas toras de árvore. Em outro instante rítmico, vemos uma pessoa caminhando em círculos dentro de um curral. Ela desaparece e aparece na imagem, repetidamente, aludindo a um recomeço sem fim. A repetição e o recomeço são fenômenos importantes nesse curta experimental que foge das regras da retórica clássica para tracejar alguns prenúncios do fim do mundo. O filme emerge da experiência de uma viagem de um mês pelo interior do Estado de Rondônia. Michele Saraiva e Francis Madson, diretor teatral, percorreram os 52 municípios do Estado no âmbito de uma itinerância do SESC-RO, onde Michele S. trabalhou durante alguns anos como técnica de cultura. Na época, ela já desejava viver com o cinema e a fotografia, e costumava sair com uma câmera junto ao corpo. As imagens que compõem o filme fazem parte de um arquivo privado de cerca de cinco horas de material bruto captado nos intervalos e pausas dessa pequena expedição. O curta-metragem traz também pequenos sketches, performances encenadas em lugares que instigaram a atenção ao longo do percurso. O filme se inventou aos poucos, improvisadamente, diante das paisagens, acontecimentos, conversas que marcaram essa experiência avassaladora que é ver de perto, profundamente, “as terras ardentes e sem árvores, percorridas por máquinas em todo lugar”2, como define tão bem Davi Kopenawa.

Fig. 1 Fotogramas de Banho de Cavalo (2016), curta experimental de Michele Saraiva e Francis Madson, com trilha sonora original da banda rondoniense “Tuer Lapin”.
“O que a gente queria era trazer um pouco das sensações que a gente tinha e sentia olhando, de passagem, as cidades do interior e aqueles lugares (…) Um pouco da vastidão, da solidão, de um isolamento, de um incômodo, da devastação, da castanheira solitária que permanece no meio de um pasto. É toda essa imagem da destruição porque tudo virou pasto ou plantação de soja.”
Michele Saraiva
A história de Rondônia é essa: a modernidade chegou nas florestas pelo processo de colonização destruindo tudo, abrindo estrada, fazendo desaparecer o que está no caminho, tirando a vida por onde passou – e trazendo novas vidas também. Nas primeiras fotografias do território de Rondônia tomadas pelo estadunidense Dana Merrill, é possível ver o que já não está – cachoeiras, povos, bichos, florestas, trabalhadores do mundo. E o início do processo de destruição. Destruição que se dá hoje, como sugere o curta de Michele Saraiva e Francis Madson, de forma diferente, embora a lógica do desaparecimento continue a reinar. De umas décadas pra cá, até as pessoas que lutam pela natureza ou por condições de vida melhores desapareceram. Foi isso que me ocorreu ao me confrontar com o movimento de aparições e desaparições na cena do curral. Para Michele, que guarda um carinho especial pela cena – afirmando ser a passagem que mais gosta de seu filme –, o jogo aparição/desaparição é uma tentativa de expressar a sensação de imobilidade transmitida pelas pessoas com quem conversaram nos municípios onde vivem muitos trabalhadores rurais — a mão de obra barata dos latifundiários da região. Muitas pessoas demonstraram o desejo de sair de lá, “correr mundo” (como dizia Iracema no filme de Bodanzky e Senna), mas não viam perspectiva nenhuma para isso, comentou Michele. Estão enclausurados naquela vida de dias iguais, pobreza e pequenos prazeres. Ao descrever esses encontros, Michele acrescenta: “O filme é um fragmento de histórias ouvidas na viagem e de sensações que foram brotando ao longo do percurso”.
Era o fim da tarde e o sol sanfranciscano se punha quando Michele S. me contou que o título do seu curta-metragem experimental, Banho de Cavalo, provém de uma lenda que ela desconhecia até então. Falamos, num cara a cara virtual, sobre a importância do cinema em nossas vidas, apesar de termos crescido em lugares onde o cinema raramente chega. Michele nasceu e cresceu em Guajará-Mirim, cidade que faz fronteira com a Bolívia. Minha mãe também é originária de lá e isso favorece uma partilha de memórias e afetos entre a gente, embora nem nos conheçamos tanto. Nessa conversa, compartilhamos nosso estranhamento em relação a percepção do tempo ao deixar a temporalidade de Rondônia. Somos atravessadas por outro tempo, um tempo que escorre de outra maneira. Falamos do desencaixe intermitente que é confrontar a temporalidade das grandes metrópoles (ela vive agora São Paulo, eu vivi anos em Paris e agora em São Francisco), e como isso mexe conosco, altera nosso modo de sentir, de agir, de pensar, de habitar o mundo.
As alterações são inenarráveis, porém continuo sendo caracterizada como uma pessoa devagar. Talvez por isso queria encontrar outra temporalidade em Banho de Cavalo, desejei que os planos durassem mais e sinto muita falta dos sons ambientes ou pelo menos de alguns momentos de respiro e silêncio, sem música. Comentei isso em nossa conversa e Michele contou que de fato, no primeiro corte, ela buscou dar ao filme algo do “tempo amazônico” que sentimos. Só que suas imagens não a permitiam isso. Talvez pelo fato de terem sido tomadas num processo de deslocamento, avançando por aquelas paisagens, dentro de um automóvel, suas imagens carregam a mobilidade da experiência vivida e a sensação de aceleração. “São imagens de passagem, estávamos de passagem”, disse Michele. O intervalo de quase dois anos entre a tomada e a retomada das imagens no processo de montagem fez com que ela enxergasse no material outro filme, mais dinâmico e visceral. Michele montou Banho de Cavalo em São Paulo, remexida pelos sons e agitações da Rua Augusta, onde vive desde 2015.
Os planos que mostram o cavalo, filmados em dois tempos, na ida e na volta, deram origem ao título do filme. No trajeto de ida, eles avistaram um cavalo esparramado no chão, na beira da estrada. A cena inventada mostra o cavalo em primeiro plano e ao fundo um homem com terno branco, cuja presença faria referência à figura dos latifundiários, donos das imensas áreas de terra esquartejadas da região. No trajeto de volta, 1 mês depois, o cavalo estava no mesmo lugar, já em estado de decomposição. Diante dessa cena macabra, Michele optou por planos fechados, que apenas sugerem se tratar do mesmo animal e que permitem que o espectador construa algo sozinho a respeito dessas imagens.
No carro, ainda atônitos com os vestígios da morte animal, o motorista que os acompanhou na viagem, conhecido por todos como “Parente”, contou uma história sobre os cavalos:
“Vocês sabem como cavalo toma banho? Ele deita num lugar arenoso, se esfrega, se esfrega, se esfrega. Esse é o banho do cavalo. E se uma pessoa for no mesmo lugar e se esfregar na terra da mesma maneira que o cavalo, essa pessoa passa a ver como o cavalo, enxergar o mundo do animal. Para sair da visão do animal, a pessoa precisa tomar uma peia [quer dizer, ser acordada através da força].”
Ouvindo Michele, me veio à mente, imediatamente, uma página de A inconstância da alma selvagem, de Eduardo Viveiros de Castro, que havia rabiscado dias atrás, quando lia o capítulo Perspectivismo e multinaturalismo na América Latina. Essa lenda, que Michele desconhecia, nos coloca no terreno do pensamento indígena, evoca a noção de animismo e “perspectivismo ameríndio”. Terreno que encontrará mais fertilidade no filme de Simone Norberto, Nazaré Encantada (2018), e se materializa nas imagens de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018).
Gostaria de comentar o plano final de Banho de Cavalo, que sintetiza muito bem a perspectiva crítica ao desenvolvimentismo do agronegócio que o filme tenta expressar. Em plano-sequência, num dos únicos momentos em que sinto o tempo escorrer na imagem, um homem nu de aparência indígena corre em uma estrada de chão, da frente para trás (em tempo invertido). Está chovendo, ele olha atônito para os lados, expressa angústia e medo, como se avistasse o céu caindo. O movimento retrógrado do homem na estrada se dá inicialmente numa cadência constante e desacelera rapidamente, o homem dá alguns passos para trás e para. A câmera se aproxima de seu corpo. Ele olha para trás, por alguns segundos, e retorna o olhar pra frente. Ficamos um tempo observando seu olhar que parece perdido no tempo, até que sua imagem desaparece aos poucos em fade-out.

Fig. 2 Fotogramas da cena final de Banho de cavalo (2016)
De costas para o futuro, o homem nu vê no passado, à sua frente, um amontoado de ruínas. Reencontro nesse plano-sequência invertido, nos gestos desse homem nu, o “Anjo da História” descrito por Walter Benjamin em seu célebre ensaio Sobre o Conceito de História. Em 1921, o filósofo alemão escreveu:
“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso.”
O último plano de Banho de Cavalo desponta impressionante, revelador da tempestade. Introduz-nos a percepção mais lúcida do progresso colado ao desenvolvimentismo do agronegócio, onde paira uma ameaça sobre cada ser, sobre cada território. Dentro desse plano benjaminiano, há outra declaração política, “kopenawana”, que se desdobra das imagens, também em tom profilático: “Quando a Amazônia sucumbir à devastação desenfreada e o último xamã morrer, o céu cairá sobre todos e será o fim do mundo”.3.
*
“ele vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”
(notas sobre Nazaré Encantada de Simone Norberto
filmado em 2011, montado em 2018,
produção independente)
Nazaré Encantada (2018) é um longa-metragem que nos toca pelo ouvido, ao ouvir as histórias e causos contados pelos habitantes de Nazaré, comunidade ribeirinha situada na região do “Baixo Madeira” (cerca de 6 horas de barco de Porto Velho). Uma lição de pensamento ribeirinho que nos ensina as lendas e mitos da Amazônia pela perspectiva daqueles/as que acreditam neles. Ao longo dos relatos, entendemos que “Norato cobra grande”, “Boto rosa”, “Curupira”, “Matinta Pereira” e “Visages”, todas essas lendas, são atravessadas por um estado ou fenômeno misterioso por eles/as descrito como encantamento. No encanto do “Boto rosa”, por exemplo, as moças são encantadas pelo boto quando o encontram na beira do rio. A moça vê um boto, apesar deste ser um homem. “Ele [o homem] vê você mas você não vê ele, vê o bicho que tá encantado nele”, explica um dos entrevistados. Esta é, para Simone Norberto, a realizadora do filme, a melhor definição do encantar.
“Encantar a Palavra”4, poderíamos resumir assim o processo que leva Simone a realização de um filme. Nazaré Encantada deriva de uma reportagem da Rede Amazônica (afiliada da Rede Globo em Rondônia), para a qual Simone, na época repórter, esteve em Nazaré a fim de fazer uma matéria sobre um grupo musical composto por jovens e crianças da comunidade, chamado “Minhas Raízes”. O processo de feitura do documentário se inicia tempos depois, distante do modo de produção televisivo, junto à pesquisa de mestrado realizada por Simone entre 2010 e 2012, na qual a jornalista propõe uma análise sociocultural dos mitos e lendas da comunidade ribeirinha à luz das teorias pós-coloniais (Franz Fanon, Albert Memmi, Edward Said).5
Tendo em mente a maneira como os entrevistados aparecem em quadro, pouco surpreende saber que, mais uma vez na história do cinema brasileiro, a ideia de fazer um filme sobre elementos culturais de uma comunidade tradicional surgiu de uma reportagem jornalística (foi o caso de Aruanda, por exemplo). A esta linhagem, pode-se acrescentar também que Nazaré Encantada não só se inscreve na tradição do cinema de entrevista como se aproxima, em certa medida, da empreitada da “Caravana Farkas”. No âmbito da “Caravana”, lembremos, o grupo de cineastas-intelectuais saindo de São Paulo para filmar as tradições das comunidades do “Brasil profundo” foram severamente taxados por impor, em seus filmes, uma visão externa, expositiva e sociológica das tradições populares nordestinas. No caso de Nazaré Encantada, trata-se de uma iniciativa fílmica de uma cineasta-intelectual da cidade interessada em escutar e historicizar a tradição oral dos ribeirinhos de seu território. Se velhas associações merecem realce, merecem também ponderações. E se algo forte da forma jornalística permanece em Nazaré Encantada, a energia narrativa do cinema documentário se afirma e se institui. Talvez porque antes de se colocar à escuta dos moradores de Nazaré, a jornalista-documentarista-cineclubista já havia realizado doze filmes de não-ficção, curtas e médias documentários e experimentais que ela denomina “vídeo-poemas”.6 Quando Simone Norberto praticou, pela primeira vez, um cinema de entrevista, ela carregava aprendizados de experiências cinematográficas das mais variadas.7
Para fazer o filme, Simone passou um mês vivendo na comunidade, convivendo e conversando com seus moradores, experiência que lhe permitiu “criar uma relação de confiança, indispensável”, como ela destacou algumas vezes ao longo das duas conversas que tivemos para a elaboração desse texto. A grande referência de Simone é o cinema de Eduardo Coutinho. Ela se interessa pela maneira na qual o cineasta “mesmo interferindo, sempre se coloca com muita humildade para ouvir o outro”. Simone preza pelo “respeito pelo outro” na “hora de documentar”. Essa postura cuidadosa diante de sujeites entrevistades já caracterizava seu trabalho enquanto repórter jornalística (Simone atuou como repórter, apresentadora, editora e pauteira da Rede Amazônica por quatorze anos) e se reativa a cada processo de Nazaré Encantada, da elaboração ao momento de exibição. Trata-se de, convivendo e conversando com os moradores de Nazaré, adotar um método de filmagem em que se tenta “escutar ao máximo, não levar uma ideia pré-estabelecida do que ‘tirar’ da conversa, esforçar-se para deixar a história tomar um rumo, por si só”. Essa abertura resulta em um filme interseccional, que atravessa as lendas locais para desembocar em questões sociopolíticas, e vice-versa.

Fig. 3 Fotogramas de Nazaré Encantada (2018), de Simone Norberto, extraídos de diferentes passagens do filme.
A montagem de Nazaré Encantada é intensamente dinâmica, pautada por planos relativamente curtos. Solução formal que também o distancia do cinema da oralidade, este que favorece a observação das expressões e gestos de sujeites filmades, e o aproxima da reportagem televisiva. A impressão que ficou, em mim, ao sair do filme, é que o procedimento de montagem, agenciado numa lógica de fragmentação dos depoimentos para serem organizados em função de uma temática, dissolveu a possibilidade de sentirmos as potências do encontro entre quem filma e os sujeites filmades e algo de mágico da expressão oral – como ocorre no cinema de Coutinho. Em relação ao campo sonoro, Simone optou por não incluir sua voz ou narração, no intuito de deixar que os/as/es sujeites filmades contem sua própria história. “Eu queria que eles falassem”, escolha que Simone define como uma “postura pós-colonial”.
Para Simone, há uma responsabilidade envolvida no processo de fazer e oferecer imagens de outras individualidades. A esse respeito, ela me contou que remontou um trecho do filme após a “pré-estreia” em Nazaré, por ter percebido um desconforto da plateia que enchia a arena da comunidade diante de uma passagem do filme. Um desconforto causado, digamos, pelo encontro de epistemologias. No trecho excluído, o entrevistado comenta que comadre “tal” virou porco e o compadre “tal” virou cavalo. O que significa, naquele território, que comadre e compadre, comprometidos em seus respectivos casamentos, haviam tido relações sexuais. Para Simone, contudo, tratava-se apenas de mais uma das diversas metamorfoses de humano e não-humano que atravessam os mitos e lendas do território ao qual o filme se dedica.
Em nossa conversa, Simone me explicou que as lendas amazônicas são vestígios do “encontro colonial”, frutos conjecturais desse momento decisivo em que os mitos fundadores e a cosmologia indígena se deparam com a crença branca. “Então, há dois níveis: o mito é mais profundo, enquanto que a lenda, oriunda do encontro do indígena com o branco, adquire uma linearidade e reflete a questão da apropriação cultural. (…) A lenda da curupira é exemplar nesse sentido: a curupira é uma protetora da Amazônia. Mas por que ela precisa proteger a floresta?” Nessa pergunta, Nazaré encantada encontra Banho de cavalo. Uma constelação envolvendo esses filmes absolutamente distintos se compõe, meio que naturalmente.
*
ver e aprender com outros territórios de conhecimento
(notas sobre Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap,
de Roseline Mezacasa com o povo Makurap
filmado em 2017, lançado em 2018
realizado por meio da primeira e única edição do Prêmio Lídio Sohn)
Em meados de 2013, Roseline Mezacasa, professora e pesquisadora que atua no campo da História Indígena, começou a frequentar a aldeia do povo Makurap, situada no interior da Terra Indígena Rio Branco, a 575 km de Porto Velho. Roseline chegou na aldeia pela primeira vez a convite da anciã Juraci Menkaika Makurap. Foi também um convite de Juraci, ou melhor, um pedido, que a motivou a encontrar meios para realizar um documentário com o povo Makurap. Roseline me contou, com a voz emocionada, os detalhes desse encontro, de tudo que ela viveu e aprendeu com os Makurap ao longo dos anos de pesquisa para sua tese de doutorado que também foi dedicada a esse povo – nomeada Por histórias indígenas: o povo Makurap e o ocupar seringalista na Amazônia.8 O filme é, portanto, para a realizadora, mais uma maneira de contar a história e a vida desse povo indígena. Roseline percebe o cinema como “uma estratégia para pensar e comunicar histórias”, mas uma estratégia absolutamente potente, pois “usar um filme em sala de aula impacta muitos mais os alunos, sensivelmente, do que ficar lá a tarde inteira falando sobre esse povo”. Trata-se de tocar, sensibilizar, afetar, estimular o pensamento com o coração, através do cinema.
Em nossa conversa a respeito de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap, Roseline destacou que a possibilidade de um documentário surgiu das experiências vividas com os Makurap. “Eles queriam que as outras gerações tivessem acesso àquelas histórias”. Os processos descritos no filme foram decididos coletivamente. “Porque tem temas que eles não queriam. Tem coisas que querem mostrar e outras que não querem”. Os povos indígenas da região convivem, desde a chegada dos brancos, com a ameaça da injustiça territorial e a cobiça fundiária. Certamente essa luta constante pela proteção de seu território poderia estar no filme, mas eles preferiram fazer um filme permeado de “coisas que eles fazem e que são extremamente importantes para vida, para o cotidiano, para sociabilidade, para a questão territorial”. O filme é atravessado pelo comprometimento em registrar aspectos do modo de vida tradicional nos Makurap para que as próximas gerações possam acessar mas, também, para que esses saberes circulem fora do território, permitindo que outros indígenas e não-indígenas possam conhecer um pouco da vida Makurap.

Fig. 4 Fotograma de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap (2018), extraído de cena em que se vê a caminhada das mulheres pelo território para a coleta do tucum, planta que serve de matéria-prima para a produção do marico. Faz parte da caminhada feminina pelo território a subida de uma serra, onde existe maior incidência da planta.
Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap segue o propósito do acolhimento de outros saberes, saberes que são governados por outros princípios, e nos seus 30 minutos de duração se torna uma oportunidade rara para testemunhar aspectos do modo de existência do povo Makurap. Logo nos letreiros de abertura, o filme nos ensina que
“Os Makurap são indígenas do tronco linguístico Tupi e fazem parte do complexo interétnico da margem direita do Guaporé, nas cabeceiras do Rio Branco no Estado de Rondônia. No início do século XX tiveram seu território invadido por seringais com imposição do regime de aviamento e a incidência de epidemias avassaladoras. Vivem, em grande maioria, na área demarcada das Terras Indígenas Rio Branco e Rio Guaporé, numa população de aproximadamente 600 Makurap”.
Letreiros de abertura de Kiteyã Toalet Makurap – Nosso conhecimento Makurap
Dividido em 6 blocos, o filme se compõe de um rigoroso trabalho de documentação que acompanha em detalhes o processo de produção do marico9, da pesca com arco e flecha, da pintura de jenipapo, da preparação do gonguinho (bichinho de terra comestível) e da chicha (bebida à base de mandioca). É interessante notar que os processos documentados, com exceção da pesca, são protagonizados por mulheres. À esse respeito, Roseline pontua que o fato dela ser uma mulher pesquisadora fez com que ela fosse “abraçada pelas mulheres”:
Por muitos anos, os antropólogos eram homens e conversavam com homens. Então há muitos estudos de um povo X, que acabou se tornando a história do povo X. Enquanto que conversando com as mulheres, a gente vai acessando universos femininos das mulheres, que muitas vezes um pesquisador homem não vai acessar. A relação que eu criei lá dentro, por conta de ser acolhida pela anciã Juraci, é muito ligada à experiência das mulheres. A produção do marico, por exemplo, é muito um processo das mulheres.
Roseline Mezacasa
Gostaria de fechar esse fragmento do texto destacando dois pontos que permitem evocar algo da minha experiência com o filme. Em primeiro lugar a bonita sequência de abertura em que conhecemos a história do começo do mundo na perspectiva Makurap, contada pela anciã Juraci, transcrita e traduzida para o português nas legendas do filme. Essa oportunidade de ouvir um discurso em língua originária e ler a sua tradução, que outros filmes de cineastas indígenas ou não-indígenas vêm nos oferecendo, merece destaque uma vez que, como sugere o filme logo na sequência seguinte, a preservação da língua Makurap é um dos movimentos importantes no processo de transmissão de saberes entre gerações. O filme se abre com a grandiosidade das palavras da anciã e se fecha com elas, momento em que descobrimos sua imagem.
Vez ou outra, mais uma vez, deu vontade de estar diante de imagens que duram e de sentir o tempo se construir na sequência desses processos calmamente vividos. É somente na sequência da pesca que encontramos a ressonância do momento filmado. A câmera está em fase com os gestos discretos e ciosos do homem. Com precisa e intensa atenção de cada minievento, o cinema se guia mais pelo tato do que pelo olhar. Com essas imagens, deu vontade de poder desprender o olhar para reencontrar o som, ouvir o canto do rio, o canto dos passarinhos, o canto dos peixes – inaudíveis pela presença quase onipresente de música.
São essas questões que me fizeram desejar que esse filme fosse um pouco diferente. A dificuldade de recebê-lo tal como ele é colocou uma dúvida, e com ela uma esperança: se desejo outro filme, seria só porque esse olhar que se debruça sobre os saberes Makurap é muito domesticado pela retórica documentária clássica? Ou seria o cinema indígena, de cineastas indígenas, que já deslocou suficientemente a maneira como sinto as imagens?
*
a memória coletiva que se vê e as memórias que não cabem num filme
(notas sobre Vozes da memória de Raissa Dourado
filmado em 2018, lançado em 2019
realizado por meio da primeira e única edição do Prêmio Lídio Sohn)
Vozes da memória (2019) é um filme importante na cinematografia rondoniense em plena elaboração.10. O filme toca o coração daqueles que (re)conhecem as histórias e os lugares rememorados pelos sujeites entrevistades, arranca sorrisos e lágrimas de todes que constituíram um vínculo com Porto Velho, informa aqueles espectadores que nada sabem da vida e da geografia das periferias do Brasil. Seu forte é esse e já é um feito e tanto, considerando a escassez de produções audiovisuais na região.
Com esse documentário, Raissa Dourado se propõe a assumir a impossível tarefa de definir num só filme o que seria a identidade cultural de uma cidade, Porto Velho, recorrendo a procedimentos estéticos que aproximam o cinema da reportagem televisiva (o uso da entrevista a serviço da corroboração de uma tese pré-concebida, a ilustração do passado por meio de imagens de arquivo, pessoas servindo de matéria-prima à construção de tipos – o músico e o poeta local, a artista de rua, o cineasta das antigas, a presença indígena). Nesse sentido, como muitos documentários convencionais dedicados a condensar aspectos culturais, o filme convoca o universo crítico de ressalvas feitas aos filmes da dita “Caravana Farkas” e àquilo que Jean-Claude Bernardet nomeou, há quase vinte anos, o “feijão com arroz do documentário cinematográfico e televisivo” (em texto chamado “A entrevista”).11.
Interessa pouco me deter nesses problemas aqui, porém parece-me útil destacar um deles, relacionado a tentativa declarada de totalização das coisas. A metodologia discursiva totalizante, esta que conduz a associação de um depoimento ao outro e estrutura o filme sob o signo da adição, visa, na maioria das vezes, constituir um todo harmônico e homogêneo (embora reúna muitas vozes). É precisamente assim que Vozes da Memória se oferece e, como se a história fosse um rio tranquilo, o filme sugere a elaboração de uma memória única e unívoca.
Só que, é sempre bom lembrar, a história de um território, assim como a memória de seus habitantes, é complexa, múltipla, fragmentária. Há sempre uma história deslembrada. Há sempre uma memória que falta. Uma delas se anuncia no filme, aliás, em depoimento da militante indígena Márcia Mura. Em fragmentos de sua fala recortados pela montagem, Mura pontua a necessidade de falarmos mais da percepção dos indígenas em relação a construção da estrada de ferro que provocou a criação da cidade de Porto Velho (E.F.M.M) – construção e criação que significaram, a um só tempo, a destruição do modo de vida indígena naquele mesmo território. “Não tem como a gente falar das comunidades que estão às margens do Rio Madeira, sem construir essa memória indígena”, diz Márcia Mura. Ao invés de puxar o gancho e desenvolver com a voz de Márcia, minimamente, essa questão crucial para a história da colonização brasileira, o filme salta rapidamente de suas palavras para adicionar mais uma discussão em torno da memória da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ouvimos então um antigo trabalhador da E.F.M.M demandar a necessidade de revitalização dos trilhos para que o trem volte a circular novamente como atividade turística. Em seguida, retornamos a Márcia Mura, cujo relato evidencia, agora, a existência de uma disputa de memória entre os que vieram trabalhar na ferrovia.
“Fala-se muito dos Barbadianos, não que eu ache que não deva falar. Tem que falar sim! Mas não só deles, né? Cadê as outras histórias, as outras memórias do Bairro Triângulo? Como [as histórias] das comunidades dos seringais, como das mulheres que lavavam roupa dos coronéis, dos médicos, militares, né? Porque não tinha outra possibilidade de emprego pra elas. Quem são essas mulheres vindas dos seringais, as mulheres indígenas. Então tem essa memória afetiva, também. Mas depois que eu fui construindo esse processo de consciência crítica eu percebi que a ferrovia foi também essa destruição, e essa representação da morte para os indígenas e para os trabalhadores.”
Márcia Mura
Esse trecho é exemplar de como o excesso de montagem pela perspectiva da totalização pode enfraquecer as vozes dos(as/es) sujeitos(as/es) entrevistados(as/es). Num primeiro momento, logo após o corte, a impressão inicial é que o filme desviou, engoliu a seco, aquela discussão. Não é o caso, já que reencontramos a entrevistada alguns planos depois. Porém a dissolução de seu depoimento em fragmentos, aqui e acolá, acaba por esmagar a singularidade e força da argumentação de Márcia Mura. Muitas vezes, como já nos demonstraram tantos filmes e cineastas, deixar a voz ecoar longamente, do início ao fim do depoimento, significa acentuar por meio das formas aquilo que é dito pela pessoa filmada.
Na conversa com Raissa, falamos bastante a respeito dessas questões ligadas ao modo de enunciação, tanto em relação à pretendida objetividade quanto à maneira na qual o filme organiza o seu discurso. Ela pontuou que num primeiro momento, durante a filmagem, estava seduzida pela ideia de um filme que daria conta de abarcar diferentes percepções da cidade – do centro, da periferia, dos povos originários, dos imigrantes –, em suas respectivas temporalidades – jovens e velhos. Só que no processo ela percebeu que não dava pra fazer esse filme idealizado e, na urgência da montagem, ficou assim, um “filme mal resolvido”, mas que contempla muitas coisas que ela desejava mostrar. Comentei que essa inquietação em torno da identidade cultural de Porto Velho já foi minha. Há 11 anos, percorri a cidade com uma pequena câmera DV, acompanhada de duas amigas incríveis – Nina Kopko e Carla Italiano –, para fazer um trabalho de fim de curso de Cinema, intitulado Rumo ao norte. Esse documentário teve como tema a trajetória de imigrantes do Nordeste e do Sul que se instalaram em Porto Velho e contribuíram para constituir a “identidade cultural” da cidade – muitas vezes a despeito dos povos originários que lá estavam. Lembro que um dos inúmeros problemas desse filme de estudante era justamente o lugar que a entrevista havia tomado. Na época, minha maior inspiração era o cinema de entrevistas “à la Johan Van der Keuken”. Porém o resultado fílmico ficou muito distante dos trabalhos do cineasta holandês, e não demorei a perceber que a causa disso foi a ausência da dimensão subjetiva que caracteriza o cinema de Keuken e todas as imagens por ele filmadas.
Tenho impressão que o excesso de objetividade documentária que acabei por impor àquele exercício documentário, e que causou problema, é o mesmo que emerge de Vozes da Memória. Como numa reportagem televisiva, o filme não nos permite saber quem fala por trás daquele discurso elaborado pela montagem, tampouco quem fala quando alguém toma a palavra dentro dos planos; quer dizer, as pessoas entrevistadas não são identificadas. Obviamente, a falta de identificação afeta o sentido e as sensações que nós, espectadores, temos ao receber os relatos dos entrevistados. Num dos momentos mais interessantes do filme, dedicado às atividades de cinema no Estado, essa vontade de saber quem fala é acentuada. Após uma passagem divertida retomando fragmentos de um outro documentário que também abraçou as expressões culturais da capital rondoniense como tema, o média-metragem de Beto Bertagna chamado Porto das esperanças (1991), surge na tela um homem falando a respeito de um Cinema com projeções em Super 8 que ele montou num acampamento de garimpeiros no Rio Madeira.
Rapaz, vamos montar um cinema no garimpo. Aí eu contei a história que eu tinha visto um Super 8 tá tá tá tá tá tá tá…aí nós arrumamos dinheiro emprestado e fomos comprar uma máquina, um projetor de filmes em Manaus. (…) Teve um filme que fez um sucesso! À meia noite encarnarei no teu cadáver. Era um filme do Zé do Caixão. (…)
Personagem de Vozes da Memória
Foi conversando com a cineasta que descobri que o projecionista garimpeiro é o pai da realizadora, cujas experiências de cinema influenciaram fortemente o caminho que ela acabou por trilhar. Mas, no filme, nada nos indica essa relação entre quem filma e quem é filmado.
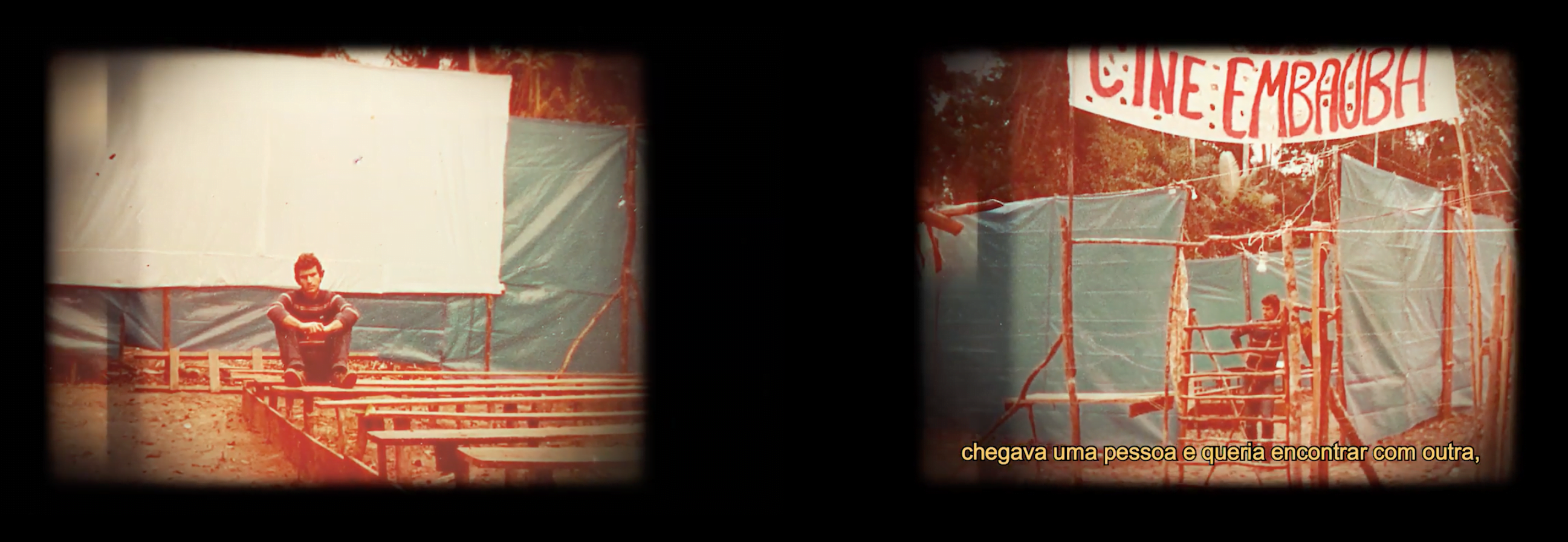
Fig. 5 Fotografias retomadas no filme com um efeito audiovisual de simulação do Super 8. As fotografias atestam a possibilidade do cinema se espalhar pelos misteriosos buracos de Rondônia. Inclusive nos buracos ilegais, como os garimpos.
São relatos como esse do projecionista garimpeiro, absolutamente inusitados, que nos fazem lembrar como podem ser preciosas as iniciativas fílmicas que se dedicam a testemunhar a história cultural de um lugar. Fico pensando que uma cena cinematográfica rondoniense já existe, há tempos, só que eu não sabia.
*
o que nós vemos, o que nos olha
(notas finais, sobre um filme porvir de Marcela Bonfim)
Nas conversas mais recentes que tive com Marcela Bonfim – cujo filme Jonathan e Gabriel está em processo de montagem – , sempre me surpreendo com seu fulgor ao reafirmar, eloquentemente, que a vida está acima da arte [leia-se: a vida importa mais do que a arte, o processo mais do que o objeto artístico, os problemas sociopolíticos mais do que a “bolha” do cinema e da arte]. Marcela tem muita clareza que a fotografia, assim como o cinema, sempre foram companheiros de processos de destruição e colonização, e é necessário subverter essa lógica. Subversão que ela pratica em atividades das mais diversas: das brincadeiras de cinema com as crianças da vizinhança à elaboração de projetos fotográficos ambiciosos. Marcela é ativista cultural, como ela gosta de se descrever, e ficou conhecida pelo Brasil com seu projeto fotográfico Reconhecendo a Amazônia Negra. Em Rondônia, ela se faz conhecer agora por sua nova aposta na música, através da Gig Soul Preta, banda formada com colegas músicos portovelhenses. Ouvindo-a cantar suas próprias composições, que reverberam traços da sua subjetividade, concluí que Marcela é sobretudo uma poeta civil. A poesia está presente em todas as formas de expressão nas quais ela se aventura. Com o cinema, trata-se de uma aventura em elaboração. À pergunta “que tipo de cinema você gostaria de fazer?”, Marcela me respondeu:
Quero fazer um cinema possível. E a forma mais possível é de filmar como as coisas acontecem. Não sou eu que estou fazendo as coisas acontecerem. As coisas que eu filmo já estão acontecendo. Eu fico lá, observando esses movimentos incríveis que acontecem na minha frente. (…) Então as coisas que eu filmo acontecem independente de mim, independente de eu estar lá. É a vida. (…) Às vezes eu crio umas situações, mas eu não tenho controle sobre elas.
Marcela Bonfim
Ao ver o corte inicial do filme porvir (provisoriamente intitulado Jonathan e Gabriel), encontrei um cinema como captação de forças. Com esse filme em que a vida das crianças filmadas pulsa em toda a sua potência, algo novo vai despontar na pequena constelação do cinema rondoniense realizado por mulheres. Um filme rondoniense do acaso, da vibração, do voluntariamente improvisado está ganhando forma neste instante.

Fig. 6 Fotograma de filme de Marcela Bonfim em processo de montagem. O filme acompanha as brincadeiras de dois irmãos, Jonathan e Gabriel, pelo território da Reserva Extrativista Pacáas Novos, situada no município de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia.
Algo da prática cinematográfica da Marcela, dialoga com uma observação da cineasta Dácia Ibiapina, compartilhada durante o curso “Essa terra é a nossa terra”, organizado pelo Forum.doc (maio 2021). Dácia comentou que “é muito importante construir um modo de produção, inventar o seu modo. Não é o orçamento que faz o filme, mas você se sentir à vontade com certo modo de produção”. Numa localidade como Rondônia, em que os investimentos em cultura e arte são raríssimos, essa observação de Dácia se expande a um horizonte possível.
Conversando com Marcela, lembrei que o cinema pode ser só um pretexto para estar junto, entrar em relação, encontrar outros mundos. Assim como a experiência de escrita deste texto foi para mim. Um texto do acaso, da vibração; voluntariamente improvisado. Talvez seja um texto precipitado. Talvez esta movimentação de um cinema de mulheres da beira do Rio Madeira que anuncio cesse por aqui. Pouco importa. Ao menos esse texto nos ajudará a lembrar que ela aconteceu. Digo isso porque já aprendemos, com a história do cinema brasileiro que foi escrita, a constante ameaça da gente, realizadoras mulheres, “sumir”.
E ao mesmo tempo em que escrevo essas linhas, eu me digo: “Esse cinema meio desajeitado, inventando seus modos de produção, tateando suas formas, ele é uma promessa. Sem pressa, fazendo pressão para que Editais de Fomento ao Audiovisual aconteçam e se perpetuem, esse cinema rondoniense se expandirá; e acontecerá, deixando muitos vestígios”.
*
Veja também: Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais – UFMG
Referências
ARAÚJO, Juliano. “Documentário rondoniense: filmes, realizadores e contextos de produção (1997-2013)”, Revista C-Legenda, no 38/39, 2020, p.158-171.
BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
Bruce Albert e Davi Kopenawa, A queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami, trad. Beatriz Perrone-Moisés, São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
MAYA, Paulo. “’Como suas palavras são lindas!’ – dedicado à memória do rezador Valdomiro Flores, indígena Ava do Coração da Terra – Ava Yvi Pyte”. Belo Horizonte: Catálogo forum.doc, 2020.
MEZACASA, Roseline. Por histórias indígenas: o povo Makurap e o ocupar seringalista na Amazônia. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Santa Catarina, 2021.
MEZACASA, Roseline “As Mulheres Makurap e o saber-fazer do Marico”. Revista Brasileira de Lingústica Antropológica, Volume 10, Número 1, Julho de 2018, p. p.23-45.
NORBERTO, Simone. Mito e identidade em Nazaré (RO) – Uma leituras pós-colonial das manifestações culturais de uma comunidade ribeirinha. Porto Velho: Temática Editora, 2020.
IMAGINAR O PRAZER E OS FILMES QUE NÃO FIZ
Filmes são coisas a serem feitas, e eu, que já construí artefatos muito concretos para filmes – entre casas de senhoras solitárias, abajures para adolescentes sonhadoras e naves espaciais para guerreiros intergalácticos – quando me vejo diante da possibilidade de realizar um filme a partir do zero começo a me debater em meio a ideias profundamente etéreas. Meio fio, meu primeiro curta, nasceu da minha vontade de filmar a solidão feminina, da minha experiência com a cidade e da minha profunda crença de que elas podem, por meio do cinema, se tornar uma só. Meio fio era só um nome dado ao bloco de concreto que delimita a rua e a calçada. E era também o lugar onde Karine e Flávia se sentavam para conversar. Ao mesmo tempo, o que é a metade de um fio se não outro fio? É a metade de algo que sempre se torna um. E isso pra mim tinha a ver com a solidão.
Tem muita coisa que acontece enquanto se faz um filme e também depois que ele passa a existir na sala de cinema. Pra mim era um filme sobre a solidão e eu queria que as pessoas vissem na personagem uma mulher autônoma. Mas também, esse espaço da solidão era o espaço da fantasia, onde se rememora e se projeta a relação com o outro. Quando o filme começou a circular, eu conversava com muita gente que se identificava e se emocionava com o sentimento que expusemos ali. Ouvi muitas vezes que era um filme “voltado para o público feminino”. Mas percebi também que as fantasias românticas narradas pela personagem provocavam riso em algumas pessoas. Isso aconteceu pela primeira vez quando passei o filme em uma escola, e pensei, bom, adolescente sempre ri de nervoso. Mas aí eu comecei a ver gente adulta rindo e pensei: é, tem alguma coisa aí.
Eu penso muito nessa ambiguidade que eu via na reação das pessoas ao se deparar com aquela intimidade feminina exposta na forma dos relatos de Karine Bahn, e é um pouco sobre isso que quero escrever aqui. Acho que há algo que surge dessa relação que a gente estabelece, enquanto espectadores, com essas imagens que desconcertam, que fazem a gente sentir um pouco de vergonha, ou que chacoalham com um certo “gosto” do que é o bom cinema. Acho que é um pouco o que os filmes de Douglas Sirk provocaram e ainda provocam. Ou o que talvez filmes como Inferninho e Sol Alegria colocam hoje, de maneiras muito diferentes. Ou até o que criou uma certa resistência, por exemplo, em torno da pornochanchada brasileira.
Então, uma forma de falar sobre isso com vocês é puxar impressões sobre filmes que assisti, alguns mais de uma vez, e que de alguma forma falam dessa intimidade feminina e provocam as nossas percepções sobre ela. Mas é bom falar que esse não é um texto que pretende fazer análises formais ou estabelecer coerências entre um corpo de filmes. Não tenho essa pretensão crítica, e assumo até uma certa dificuldade em fazê-lo. Quero falar sobre os filmes a partir da ótica de quem os assiste porque quer fazê-los. Falar como se conversa sobre eles na mesa de bar, na saída do cinema, nessa coisa que também faz parte da experiência coletiva que é o cinema. Experiência da qual hoje estamos apartadas. Não só pela impossibilidade de entrar e sair da sala de cinema, mas também porque tudo indica que o contexto geral de produção e de fruição do cinema está sendo desenhado para que essa experiência definhe.
Eu penso que vivemos uma guerra contra a imaginação. Qualquer experiência de invenção de mundos que enfrente o atual estado de coisas está sendo deliberadamente polida. Tomando isso para o cinema, eu acho que podemos pensar na imaginação tanto como aquela que dá substância ao filme, que provoca o seu estado de espírito; como aquela presente na experiência de se estar acompanhada do filme na sala de cinema, com ele projetado de forma que a gente se sinta miúda diante da tela, permitindo que nossa mente produza derivação e prazer.
Atravessada pela necessidade de fazer filmes, e ao mesmo tempo, pela completa impossibilidade que se coloca neste momento, tanto de fazê-los como de dividir espaço com eles na sala de cinema, escrevo pela necessidade de colocar essas ideias para circularem. Pode parecer, mas isso aqui não é um texto de lamentações. Eu quero devanear sobre filmes que não fiz, cogitando que pode interessar a alguém dividir isso comigo, e desejando ferozmente que esses filmes venham a existir.
A pergunta que eu me faço há algum tempo é de como a capacidade de invenção do cinema pode provocar a nossa imaginação acerca daquela intimidade feminina. Se a gente pensa na intimidade como algo que está guardado, trata-se de trazer para a tela algo que não é visível. Essa intimidade, esse universo oculto que me interessa, guardado como segredos em um diário, é um universo povoado pelo desejo, pela fantasia, pela sexualidade e, simultaneamente, por todas as forças que tentam mantê-los ocultos. O que me interessa é buscar como esse universo sensível e invisível vai tornar visíveis nos filmes as múltiplas experiências do prazer feminino.
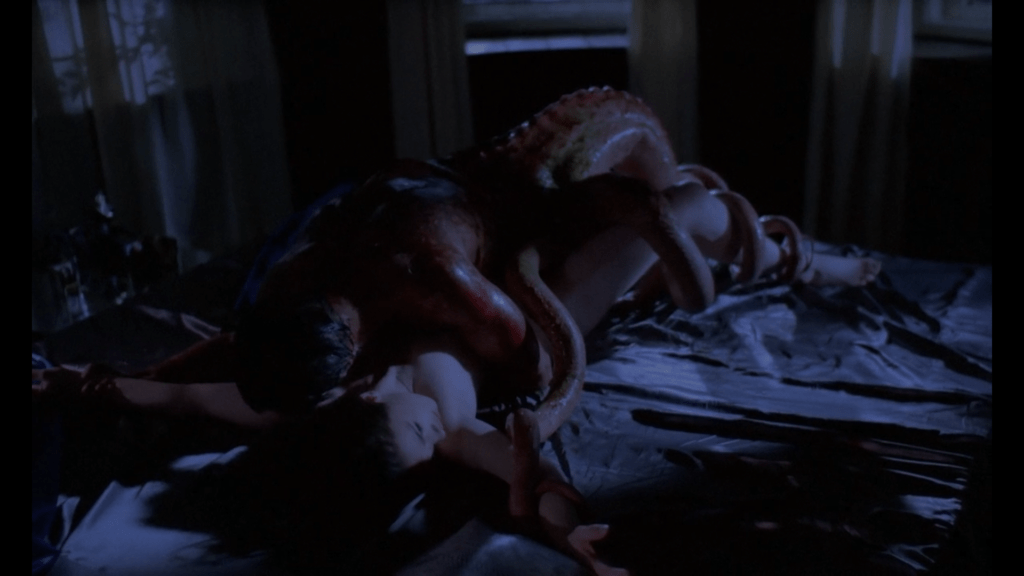
Acho que um começo pode ser perguntar como agem essas forças que procuram manter oculta essa experiência do prazer, e porque ela em si pode ser tão ameaçadora. Em Possessão (1981), eu vejo essa ameaça no olhar que Mark (Sam Neill) lança para Anna (Isabelle Adjani) na cena em que ela se entrelaça ao monstro-amante.1 Embora o filme aparentemente diga o contrário, o conflito de Anna para mim não é com os dois homens entre os quais ela está dividida – o marido e o amante – mas sim com o monstro que a possui. “Eu não posso” ela repete, ao mesmo tempo que diz “preciso ir”, enquanto vai ao encontro do monstro, apesar do muro, apesar dos carros que despencam à sua frente. Ele a espera, ela cuida dele. Ele a possui, ao passo que a enlouquece, mantendo-a dividida entre a fé e o acaso, “essas duas irmãs”. Na cena a que me refiro, Anna está envolvida pelos diversos tentáculos do monstro, ele a penetra, ela olha para Mark e diz: “quase…. quase, quase, quase”. Mark, aterrorizado, apenas diz “sim” e foge, incapaz de lidar com aquela cena. Depois, ele quer salvá-la, mas também quer matá-la e quer morrer. O monstro que possui Anna é a sua própria experiência do prazer, inapreensível para os dois homens com os quais ela se relaciona e, principalmente, para ela mesma.

Essa experiência do prazer tornado horror eu vejo também em Trouble Every Day (2001)2 com esse título que sugere a persistência de um problema dia após dia. O desejo pulsante em Cloé (Béatrice Dalle) é uma doença. Tanto ela quanto Shane (Vincent Gallo), seu amante do passado, são acometidos da mesma doença, aparentemente incurável: a experiência do prazer sexual leva-os a canibalizar seus parceiros até a morte. Shane é atormentado pela culpa, e nele eu vejo uma racionalidade que não vejo em Cloé. Enquanto Shane resiste ao seu desejo pois sabe que ceder a ele significa matar sua esposa June (Tricia Vessey), o desejo de Cloé é visceralmente mais potente e incontrolado, atuando como uma força centrípeta e fatal. Quando finalmente encontra Cloé, Shane a mata e, neste ato, me convenceu de que ele a via como provocadora de sua condição. A cena imediatamente seguinte a que Cloé arde em chamas é a de Shane transando com June, como se acreditasse na sua cura a partir da morte de Cloé.
Existe nesses dois filmes um ímpeto de exterminar aquilo que dá prazer e, simultaneamente, atormenta. Pode ser uma potencialização desse desconcerto que causa a experiência visível do prazer feminino: uma experiência tornada monstro. Na construção do filme de horror, é preciso criar um monstro no qual a gente acredite, e para acreditar é preciso temê-lo. E quanto mais tememos, mais forte ele se torna.
“Tenho medo da vida! Às vezes eu fico aterrorizado. Qualquer felicidade parece trivial. E, no entanto, me pergunto se tudo não passa de um engano… essa busca da felicidade, esse medo da dor. Se em vez de temer a dor e fugir dela, se pudesse… atravessá-la, ir além dela. Há algo além da dor. É o ser que sofre, e há um lugar onde o ser… acaba. Não sei como expressar. Mas acredito que a realidade… a verdade que eu reconheço no sofrimento, mas não reconheço no conforto e na felicidade… que a realidade da dor não é a dor. Se for possível atravessá-la. Se for possível suportá-la até o fim”, disse Shevek3 em Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. O que nosso instinto primordial nos diz é: evite a dor, fuja do monstro. Filmes, fábulas e parábolas foram contados para nos fazer acreditar que é possível superar a dor e, depois dela, alcançar o júbilo, o céu, a recompensa.
Para Lilian, ou Maria, ou Célia (Célia Olga), em Lilian M: Relatório Confidencial (1975) essa recompensa nunca chega.4 A cada relacionamento ela vive tudo o que pode viver, mas subitamente passa para outro, como que entregue ao acaso das circunstâncias. Os cortes do filme não permitem fechar um julgamento moral acerca de Lilian, apenas acompanham seu movimento, que é sempre de viver uma experiência e passar para a próxima.

Uma cabeça treinada para procurar propósitos vai se perguntar pelo quê ela está procurando. E essa mesma cabeça aí poderia tornar essa personagem opaca, desinteressante. Mas aí acontece uma cena, que fica voltando em looping na minha cabeça sempre que assisto ao filme, ou quando lembro dele. Lilian encontra Braga (Benjamin Cattan) em um restaurante. Ele é o seu primeiro amante na cidade, um homem rico, casado e que a mantém. Ele fala sem parar. Lamenta-se das agruras de ser um homem poderoso, com tantos empregados que não enxergam a bondade que há nele. “Eu poderia privá-la da minha amargura, mas eu nunca tive tempo de ir ao neurologista. O único preço por tudo que eu lhe fiz, foi você sempre me ouvir sem refutar ou concordar. Sua mudez, ou quem sabe, a sua ignorância, são elementos altamente terapêuticos para mim. Minha primeira mulher sempre foi minha confessora, até o dia do parto do Fausto…”. Lilian desliga-se e olha para o nada enquanto ele despeja sobre ela toda essa chatice. Subitamente, o salão do restaurante é invadido por dançarinos, vestidos com roupas coloridas, que dançam em volta da mesa e por trás deles. A câmera lentamente se aproxima do rosto dela, e é como se os dançarinos e a música fossem as voltas que sua mente dá enquanto ouve todo aquele blá blá blá. Aquela poderia ser sua mudez ou sua ignorância, como Braga diz. Mas aí vem o cinema e, à mudez e à ignorância, opõe a imaginação e o desejo.

Um de seus amantes vai oferecê-la um trabalho em um bordel. A primeira pergunta que a cafetina faz a ela é: “Você sabe dançar mambo, meu bem?”. Seguem-se cenas da cafetina fantasiada, encenando diversos estilos musicais a Lilian: rumba, conga, ula-ula, etc. Lilian se empolga, é como se naquele momento estivesse vivendo a fantasia construída enquanto conversava com Braga. O filme não entra muito nisso, assim como Lilian não entra muito em nada. Mas essa cena pra mim diz muito sobre a disponibilidade de Lilian de performar diversos papéis, e o prazer que encontra nessa busca que a gente não apreende, se transformando numa personagem fugidia, incapturável, assim como é o próprio desejo.

O acaso que atormentava Anna é o que conduz Lilian. Ela escolhe não ceder à fé: é a primeira que ela abandona quando deixa o marido e os filhos no início do filme. Mas nessa propulsão de Lilian existe um instinto ou uma necessidade de sobrevivência, e é esse instinto que coloca a experiência do prazer em contato com a experiência do mundo, de seu território e das regras que constrangem a existência. E o prazer acaba entrando nesse jogo, delimitado entre a disposição para ceder ou transgredir essas regras.
Uma vez eu estava em um bar aqui na Ceilândia e fui ao banheiro. Quando empurrei a porta, percebi que tinha uma pessoa dentro e recuei. A mulher que estava lá abriu a porta e me falou que eu podia entrar. Era um banheiro pequeno, só cabíamos nós duas lá mesmo, eu fazendo xixi e ela na pia. Começamos a conversar. Ela me disse que trabalhava na Império, mas que tinha ido nesse bar hoje porque estava procurando uma menina pra substituir ela lá. Queria mudar. Comecei a entender o que ela estava querendo me propor. Ela me perguntou se eu já tinha feito programa, eu disse que não. Ela disse que era de boa, que eu ia me acostumar. E que ela começou porque era assim: “Eu pegava um cara num final de semana. Aí quando era no outro final de semana tava lá o mesmo cara com um amigo. E dessa vez, o amigo dele é que queria me comer porque sabia que eu já tinha dado pro outro. Aí é melhor cobrar, né?”. Ela disse que eu ficasse tranquila, olhou pras minhas roupas e disse que se eu topasse ela ia no shopping comigo pra gente ver umas roupas novas. Eu disse que ia pensar, ela disse que se eu topasse era só aparecer de novo lá na próxima sexta.
Nunca mais essa proposta saiu da minha cabeça. Estava ali, um dos caminhos. E é só mais um deles, eu pensei, assim como Lilian pensou. A prostituta, que penso aqui como personagem, estabelece um outro jogo com o prazer que é o da relação produtiva. Nele, é preciso se usar da fantasia e do desejo de maneira pragmática, tornando-o mercadoria negociável. O bordel de luxo em Palácio de Vênus (1980) é construído como uma fábrica.5 Ali estão todos os componentes da linha produtiva, o patrão, os operários, o valor da jornada de trabalho, as disputas por hierarquias, tudo permeado pelo pragmatismo necessário para que o sistema opere. Logo no início do filme, Madame Carlota (Elizabeth Hartmann), dona do bordel, diz a Dolores (Arlete Montenegro), enquanto esta coloca dinheiro em um envelope para enviar à filha distante: “Cê não tá pensando no seu futuro, mulher. Eu sei que mãe é mãe. Mas o tempo passa, a gente envelhece, e depois? Lembre-se que somos como máquinas! Máquinas de abrir as pernas e nhec nhec nhec”. O recado dela é claro: não há espaço para pensar outra vida que não essa. E é essa a fatalidade que vai determinar o trágico fim do filme.

A experiência do prazer na cabeça de Madame Carlota precisa ser formatada para a venda. A imaginação tem lugar como produto que atende a uma demanda, assim como faz um publicitário, vamos dizer. Mas onde há subordinação há também resistência e invenção: as prostitutas resolvem fazer uma greve, insatisfeitas com o alto percentual retido pela patroa. Elas se recusam também a aderir ao moralismo da prostituta católica, que tenta reconduzi-las ao caminho do senhor. Mas ela mesma é uma figura ambígua: a portas fechadas, leva ao extremo a fantasia do êxtase cristão com seu amante coroinha.

Acho que a prostituta é uma personagem que me provoca porque me coloca diante da nossa mais profunda ambiguidade. Ela é marcada de forma escancarada por esse estigma puritano que leva à condenação do corpo feminino e a possibilidade de se manipular e formatar a experiência do prazer, mesmo que seja para vendê-la. Ela me faz olhar o monstro de frente, provoca o meu moralismo, me jogando no embate entre a fé e o acaso.
Olhando para o motim das prostitutas no Palácio de Vênus, eu me pergunto: como fazer para resistir a esse estado de coisas que nos é imposto, que nos pretende máquinas de nhec nhec nhec tanto quanto máquinas de produzir filmes? Eu acho que os filmes não precisam responder a nada, o cinema não salva nem nunca salvou ninguém. Ele está inserido no mesmo jogo pragmático que Madame Carlota expõe a Dolores em Palácio de Vênus. Mas é a potência do cinema em tornar o invisível visível e de jogar com os sentidos que pode estabelecer resistências à pasteurização na nossa forma de olhar, imaginar e produzir nosso prazer. E eu acho que essa potência passa por se entregar um pouco como Lilian à incerteza do que se quer, mas também à percepção clara de que essa experiência do prazer não depende de um clímax, mas de algo que acontece em muitas camadas, que depende de inúmeros contatos e que se espalha como lava de vulcão ao tomar a superfície, pesando que a gente pode ser lava.
Eu penso incessantemente nisso, e é essa obsessão que me faz escrever esse texto agora. Escrevo pois acredito na capacidade da palavra tanto quanto na capacidade do cinema de produzir contato, à semelhança do que Claire Denis faz com seu olhar rente à pele; ou de como Naomi Kawase faz a gente respirar junto com as personagens; ou de como Paula Gaitán faz a gente ouvir os filmes dela. Mas existe um contato e um encontro entre quem realiza para que os filmes aconteçam e resistam, mesmo para construir naves espaciais. Os filmes que ainda não fiz são filmes que querem imaginar o prazer como enfrentamento, acreditando no próprio enfrentamento em se fazer filmes e na profunda necessidade de que eles existam.
POR UMA HISTÓRIA DIALÓGICA DO CINEMA EXPERIMENTAL FEITO POR MULHERES
O chamado cinema experimental ou de vanguarda é muitas vezes descrito como difícil de definir, relacionado a uma investigação formal não comercial e, frequentemente, não narrativa. Costuma-se delimitar dois períodos principais dessa produção, um nos anos 1920 e 1930, centrado principalmente na França e outro, no pós-guerra, com seu ápice durante a década de 1970 nos Estados Unidos. Essa convencional demarcação temporal revela o caráter colonial da historiografia oficial do cinema experimental, que não identifica outras vanguardas fora do eixo Europa-Estados Unidos.
Seus filmes inaugurais foram marcados por experimentações dadaístas e surrealistas, resistentes à formalização narrativa predominante da época e com o interesse de reconhecer o cinema como arte. Nos interessa aqui o segundo período, principalmente a partir de 1960, quando o termo “cinema experimental” se difunde na teoria cinematográfica e se consolida como um gênero — ou ao menos um nicho. Esse segundo ciclo aprofunda as buscas do primeiro, com experiências com o cinema abstrato, o handmade cinema, o filme caseiro, o found footage, etc. A chegada da videoarte e do cinema expandido também amplia o campo dessas experimentações fílmicas. Consideramos que esse momento se estende aos dias de hoje, visto que muitos cineastas desse período seguem produzindo e outros novos ampliam as temáticas e formalizações iniciadas.
Há uma clara predominância masculina na escrita da História oficial do cinema. No experimental, isso não é diferente. Quando se pensa nos cânones dessa cinematografia, surgem com facilidade nomes como Stan Brakhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger e Michael Snow. Alguns desses ainda carregam títulos típicos do patriarcado como “o padrinho do cinema experimental” (Mekas) ou “o pai do cinema experimental” (Brakhage). O nome feminino que aparece com mais facilidade é o de Maya Deren — e, claro, descrita como “a mãe do cinema experimental”. Com menos frequência, podem surgir nomes como Marjorie Keller, Peggy Ahwesh, Barbara Rubin ou Chick Strand. Todas elas, cineastas europeias ou norte-americanas, sendo raro encontrar alguma referência a cineastas do chamado Sul Global, à exceção de estudos específicos.
Em resistência a esse quadro geral de exclusões, este texto é resultado de uma pesquisa realizada ao longo do fatídico 2020, que também deu origem a um curta-metragem 1e a um longa em processo de finalização. Motivadas por uma urgência de referências experimentais realizadas por mulheres, tomamos como ponto de partida o livro Women’s Experimental Cinema, de Robin Blaetz, que reúne textos sobre o trabalho de quinze cineastas experimentais. Após buscas por suas filmografias, muitas vezes restrita a coleções de arte ou a distribuidoras de cinema experimental, realizamos uma troca de vídeo-cartas inspiradas por tantas formas e conteúdos encontrados. Ao longo do processo, sentimos falta de cineastas latino-americanas que, apesar da relevante contribuição ao campo, são frequentemente excluídas da tal historiografia oficial. Sendo assim, fizemos uma pesquisa alternativa para incluí-las nessa história.
A escolha das seis cineastas analisadas nesta correspondência deu-se por critérios históricos, geográficos e afetivos. Começando no auge da vanguarda dos EUA nos anos 1960/1970, chegamos a uma produção contemporânea, não sem passar pela criação latino-americana. Gunvor Nelson e Joyce Wieland representam o início desse caminho, duas imigrantes que começam suas carreiras nos anos 1960 nos EUA. Já Leslie Thornton e Abigail Child são representantes da vanguarda estadunidense dos anos 1970 e 1980 e seguem trabalhando ativamente. Terminamos o percurso na América Latina, com a mexicana Ximena Cuevas e a alemã-argentina Narcisa Hirsch.
A escrita epistolar costuma ser considerada um gênero menor de literatura, praticado sobretudo por mulheres 2. Vista como algo pouco objetivo, por ser em primeira pessoa e muitas vezes emotivo, a escrita em cartas nos pareceu adequada para construir uma comunicação à distância entre duas amigas cineastas, onde análise fílmica se mistura a sensações e trocas pessoais, em pleno confinamento da pandemia.
×
São Paulo, data indefinida, entre 2020/2021.
Amiga,
Espero que esteja se protegendo no inverno californiano. Engraçado pensar em você passando frio nas praias de Los Angeles, enquanto sofro de calor no asfalto de São Paulo.
A descoberta da sueca Gunvor Nelson salvou meus primeiros meses de isolamento. Cineasta prolífica, Nelson fez filmes por mais de 40 anos (de 1965 a 20063) e viveu durante 30 no East Bay dos EUA, perto de onde você está agora. Seu trabalho é difícil de classificar e ela própria explica que cada filme começa com uma estratégia ou atitude em mente, para em seguida realizar uma investigação do que deve ser feito4. Imaginei-a muitas vezes fazendo sua quarentena aos 90 anos em Kristinehamn, cidade sueca de 18 mil habitantes onde vive hoje, olhando para o lago com sua filha Oona, personagem de um de meus curtas preferidos, agora uma senhora de 60 e poucos anos.
De alguns de seus primeiros filmes, como Schmeerguntz (1965) e Take Off (1975), retenho a experiência de uma colagem analógica e radical aplicada a filmes explicitamente femininos. Em um contexto de cultura de massa dos anos 1940-1960 onde a figura da dona de casa é recorrente por um lado, e a dominância masculina no campo do cinema da vanguarda por outro, seus filmes são radicais tanto por sua experimentação formal quanto por seu conteúdo. Uma mulher retirando um OB em primeiro plano é algo ainda hoje raro de se ver em um filme. O desmembramento de Magda em Take Off, enquanto faz um strip-tease, reflete sobre a objetificação do corpo feminino de forma cômica, com um humor e leveza que talvez possam nos inspirar para pensar um cinema feminista.
Em Old Digs e Kristina’s Harbor, duas partes de um mesmo filme de 1993, o aspecto arqueológico de seu trabalho se destaca. Utilizando sobreposição de imagens e animação com riscos e recortes em cima de imagens filmadas, Nelson procura pelas camadas escondidas da realidade visível. O som também realiza uma busca solta por elementos reveladores, onde escutamos trechos aleatórios de conversas, algumas vezes repetidos em cartelas escritas. Essa sobreposição em camadas de som e imagem revela aspectos do passado, da memória e do imaginário, em um reencontro de Nelson com Kristinehamn, onde nasceu e para onde retornou após sua estadia nos EUA.
A experimentação sonora assume sua forma mais interessante em My name is Oona (1969). A filha de Nelson, então uma criança, fala repetidamente em off o título do curta (“meu nome é Oona”). A repetição em diferentes tempos origina uma trilha sonora experimental e única. O dispositivo imita os jogos infantis em que se repete uma palavra até que ela deixe de fazer sentido. Oona afirma sua identidade ao mesmo tempo em que essa parece perder sentido. Eu sou o meu nome? O que ele significa?
O interesse de Nelson pela linguagem me parece relacionado ao fato da cineasta ter feito seus principais trabalhos radicada nos EUA, fora de seu país natal e em uma língua que não era a sua — assim como você agora.
Take off / Old Digs / My name is Oona
Me espanta como o nome dela ainda é pouco reconhecido, mesmo nos meios do experimental. Penso em nossas trajetórias de cineastas não convencionais. Os tempos são outros, mas ainda parece difícil conseguir uma estabilidade nesse caminho. Você acha que nossa sina será trabalharmos extensivamente como Nelson e chegar aos 90 sem sermos devidamente reconhecidas? Nelson ainda tem a vantagem de viver na Suécia, país com recursos para a cultura e que entende a importância de preservar sua memória cinematográfica. Seus filmes estão preservados e são distribuídos digitalmente pela FILMFORM5. No Brasil de hoje, nem podemos contar com uma cinemateca para depositar nossos filmes.
Termino com os desejos de que Nelson esteja vacinada e volte a fazer filmes em breve, como tantos cineastas com sua idade ainda o fazem.
F.
Los Angeles, noite fria hollywoodiana.
Olá, amiga,
Te escrevo do inverno daqui pensando no calor daí e a saudade do encanto caótico de São Paulo começa a transbordar.
Curioso pensar que o mergulho nestas mulheres nos trouxe uma sensação de alívio e aproximação em tempos como estes. Ler tuas palavras sobre a Nelson me fez pensar muito na Joyce Wieland, a primeira mulher do cinema experimental que me intrigou a procurar similaridades. Alguém que, à diferença de Nelson, teve uma carreira “breve” como cineasta e que é vista hoje como uma das incompreendidas e ignoradas de seu tempo. Isso me faz ver que talvez essa sina que você comenta seja uma característica muito comum desse cinema não convencional — que é reconhecido em outro tempo, depois de muitas e muitas tentativas, provando uma insistência que só após anos é observada por alguém. E que é uma trajetória muito mais árdua sendo mulher.
Handtinting
O interessante de Wieland é que ela começou sua carreira como pintora e é nítida essa experiência manual em seus filmes. No caso de Handtinting (1967-68) fica clara a referência da pintura, ao usar tinturas de tecido para colorir esse filme silencioso de 5 minutos sobre mulheres dançando em loop. Me chama muito a atenção este recurso da imagem e o ritmo sonoro repetitivo, insistente. É recorrente essa representação do cíclico e variações diversificadas nos seus filmes, como em Sailboat (1968) e Catfood (1968)6, que te fazem ver uma mesma imagem de distintas formas, encontrando detalhes e leituras que à primeira vista quiçá estavam despercebidos. Uma proposta de trazer uma extravagância no ritmo e não linearidade que acaba sendo mais visualmente expressiva.
Wieland, sendo canadense e trabalhando na maior parte nos EUA7, trouxe a relação das temáticas culturais e identidade nacional no seu trabalho e visão como cineasta, declarando notoriamente sua posição política sobre esse país que ela chamou de casa. Um exemplo seria Patriotism (1964), onde um homem se encontra perdido no sono e uma avalanche de hot-dogs “patriotas” invadem sua cama em uma marcha por meio do efeito de stop motion. As salsichas começam a despedaçar os pães levando a bandeira dos Estados Unidos, talvez uma referência à “invasão imperialista”, até que finalmente o homem acorda e come as salsichas que chegaram até ele. Essa breve peça está atualmente exposta no MoMA8. Ala David Geffen, o que me deixa reconfortada ao ver a Joyce ocupando hoje alguns espaços de reconhecimento. Outro exemplo sobre sua crítica ao “sonho americano” é Rat Life and Diet in North America (1968), curta que mostra a jornada de um grupo de ratos – inusitadamente, ratos de verdade – que são prisioneiros nos EUA por um gato e que fazem uma fuga heróica para o Canadá, idealizado como um destino utópico de abundância e lazer. O filme centra-se nas imagens dos ratos perambulando pra lá e pra cá, enquanto o gato os observa como presas através de uma grade. Letterings carregam a narrativa, com frases que detalham as ações e aventuras dos ratos, transformando o filme em uma parábola e alegoria de um país que se encontrava na época em grande conflito de protestos contra o militarismo (diante da Guerra do Vietnã) e o capitalismo. Não à toa, foi um dos filmes mais reconhecidos de Wieland, sua construção é realmente única e genial como um filme experimental político em tom humorístico.
Patriotism / Rat Life and Diet in North America
O cinema como processo de colaboração, interlocução e trabalho coletivo é um aspecto de Wieland com o qual me identifiquei muito também. No caso de A and B in Ontario (1984), o filme consiste em um jogo improvisado de retrato entre duas câmeras, uma na mão de Wieland, e a outra na mão de Hollis Frampton. O curioso desse filme é que ele foi concluído 18 anos após sua filmagem, sendo Wieland quem editou esse filme criando um belo diálogo cinematográfico de forma epistolar entre as imagens.
Entretanto, assim como Nelson, Wieland foi outra mulher que não conseguiram encaixar em uma definição pragmática — definição a ser feita por um homem, evidentemente. Lembro de ler uma frase muito infeliz de Jay Scott sobre ela: “Tem sido difícil para a Wieland porque ela é uma mulher, e tem sido difícil para os críticos porque ela tem sido muito feminina… muito imprudentemente fértil”9. Me faz pensar que essa incompreensão também está relacionada ao fato dela ter sido companheira de um homem de reconhecimento: Michael Snow, uma figura chave do cinema estrutural. Sem dúvida, essa carreira “breve” se deu muito por conta dela ser mulher, às sombras de uma figura masculina que era muito mais predominante naquele tempo. A versatilidade do trabalho dela, esse estilo policêntrico, foi difícil de classificar e, portanto, ignorado pela maioria. A propósito, é o que mais me interessou nela, o fato de ter criado esse estilo de “Muitas Joyces” e, em cada trabalho, ser possível reconhecer uma parte de sua identidade e trajetória. Essa “imprudência” de estilos.
Me encontro agora pensando sobre nós mulheres cineastas, tendo companheiros homens que também trabalham com artes visuais. Estamos também fadadas a ter menos reconhecimento que eles? E termino, por ora, com mais algumas perguntas difíceis. Como evitar esse mesmo lugar em que os cânones da validação do cinema colocaram essas mulheres antes de nós? Como conseguir ser imprudentes livres de definições como as de Jay Scott?
A.
São Paulo, quarentena infinita, 2020/2021.
Chica querida,
É curiosa essa recorrência de mulheres cineastas difíceis de categorizar. Parece haver uma busca por uma liberdade formal extrema ou talvez uma relação mais intrínseca entre forma e conteúdo, sem seguir uma fórmula.
A Julia Teles, nossa companheira do som experimental nessa empreitada, postou um artigo do The Guardian que falava sobre as mulheres artistas que perderam o reconhecimento de suas carreiras ao se casarem. Para além de serem recordadas apenas como as “musas” de tal ou tal artista homem, há ainda a estranha tradição de virar uma propriedade do marido ao trocar o sobrenome, perdendo assim a continuidade da trajetória de um nome artístico único.
Por isso, queria falar agora de uma cineasta que não foi ofuscada pelo casamento com um artista homem, mas que ainda assim costuma ser referenciada por ter estudado com Stan Brakhage, Peter Kubelka e Hollis Frampton, que, como você citou, trabalhou com Joyce Wieland. A estadunidense Leslie Thornton começou seus trabalhos na mesma época que Wieland, mas segue viva e ativa, para nossa felicidade. Seu último trabalho foi uma exposição na Alemanha chamada Ground em 2020, em plena pandemia.
Em um primeiro momento, Thornton me chama a atenção justamente pela força da continuidade de seu trabalho. Ela constantemente reutiliza trechos de seus próprios filmes, encarando-os como found footage. Uma imagem ou som feito por ela nos anos 1980 cria novos sentidos ao aparecer novamente nos 2000. Sua série mais conhecida, Peggy and Fred in Hell, começou em 1983, antes de nascermos e continua até hoje. Nela, acompanhamos duas crianças brincando e criando jogos em um mundo pós-apocalíptico, influenciadas pela cultura de massa: Fred imita Jack Nicholson e usa uma camiseta do Superman, Peggy sabe a letra de Billie Jean de cor. Os cenários caóticos, construídos com acumulações de objetos e dejetos, sempre revelam uma televisão, um rádio ou telefone. Esses filmes me fizeram pensar em como as crianças estão vivendo a pandemia, assistindo TV e YouTube, criando mundos imaginários para fugir do tédio.
Peggy and Fred in Hell – The Prologue
A infância também aparece em Jennifer where are you (1981), onde vemos uma menina pequena passando batom exageradamente e brincando com um fósforo, enquanto uma voz masculina a chama ao longe e repetidamente “Jennifer, onde você está?” Thornton nos dá acesso a imagens de um mundo infantil de liberdade e subversão que é interrompido pela voz adulta que tenta controlá-la.
Essa junção entre imagens livres e sons que fazem o papel da autoridade se repete em muitos de seus filmes. Em um mais recente, They were just people (2016), Thornton usa o arquivo sonoro de uma testemunha da bomba de Hiroshima sobreposto a duas formas redondas e poéticas, que lembram bolhas aquáticas se formando e explodindo repetidamente. A voz mantém um tom neutro e científico, em contraste com o conteúdo chocante da fala. A imagem estereoscópica10, que parece bonita em suas texturas e cores, se transforma em algo aflitivo quando a testemunha descreve as consequências físicas do ataque nuclear. A junção de som e imagem nos faz imaginar o terror do que é difícil compreender.

They were just people
O som é o contraponto que torna as imagens mais complexas, nunca apenas comentando ou explicando o que vemos. Filha de um físico e neta de um engenheiro elétrico, o discurso científico reaparece muitas vezes em sua obra. Um que me chama a atenção nesse sentido é Strange Space (1993), em que vemos imagens de uma cirurgia médica mescladas com imagens do espaço sideral. Ouvimos o som dos médicos e enfermeiras discutindo a situação de saúde do ator Ron Watke, paciente da cirurgia, enquanto ele recita um poema de Rilke. Watke luta por sua sobrevivência, mas também pelo direito de não ser definido por aquele discurso científico sobre seu corpo.

Strange space
Oposições entre imagem-som, adulto-criança, homem-mulher, ocidente-oriente permeiam suas obras e Thornton parece ter a convicção de que nunca é possível captar o Outro em sua totalidade. Isso fica claro em X-TRACTS (1975), que poderia ser apenas um portrait documental com imagens em close-up, não fosse a edição de off entrecortada, formada por curtos pedaços de palavras ou frases com durações que variam de 3 segundos a ¼ de segundo. O discurso é impossível de ser entendido em seu todo e isso faz com que o espectador tome uma posição atenta, tentando juntar os pedaços de informação que o som nos joga.
Te deixo com uma frase de Thornton sobre seu próprio trabalho que acredito que você vai gostar: “Eu posiciono o espectador como um leitor ativo, não um consumidor. O objetivo não é um produto, mas um pensamento compartilhado”. Parece um bom caminho, não?
F.
Los Angeles, lockdown permanece, entre 2020/2021.
Amiga,
Que bela forma de concluir a tua última carta com essa impactante frase de Thornton. Compactuo do mesmo pensamento dela e acredito que não devemos nunca subestimar a sensibilidade do espectador para a autenticidade.
Nessa busca de radicalizar e repensar a forma, relembro da cineasta e poeta Abigail Child, alguém que tem feito filmes por 20 anos e que também para nossa alegria, continua muito na ativa, lançando inclusive um novo filme no ano passado que circula em diversos festivais de cinema. Vejo seus filmes claramente como uma contrapartida dessa lógica mercantilista do cinema e uma busca incessante de trazer liberdade às suas próprias imagens, como se propondo a olhar por todas as direções delas, desatá-las para concedê-las múltiplos sentidos.
Podemos perceber alguns traços dessa performatividade da imagem e os conteúdos que claramente Child se interessa em Is this what you were born for? (1989), que Child descreve como um mapa de sete filmes que resultam de reflexões sobre o mundo no final do século XX. Há uma correspondência entre o found footage e as imagens que ela mesmo capta, criando uma composição prismática de imagens e variações de sons como uma poesia. Não à toa, Child se denomina também como poeta, porém não utiliza-se de uma poesia tradicional lírica. Sua particularidade é a forma como utiliza versos e palavras como elementos que interpretam a sua própria imagem e que criam uma construção narrativa em fragmentos. A composição rítmica não linear também é uma característica bastante recorrente nos seus filmes, fazendo com que o som seja um elemento que libera a imagem para diversas interpretações. Por vezes a montagem de imagens é inescrutável, mas a riqueza de elementos e efeitos faz com que eu acompanhe e tente capturar atenta todos os alvos de significado.
Outro projeto composto por filmes como capítulos é Trilogy of the Suburbs (2011)11, uma leitura sobre a experiência migratória desde a infância até a senioridade nos subúrbios dos EUA e o que resulta dessa procura do “sonho americano” em um período pós segunda guerra mundial. Iniciando com Cake and Steak (20 min), novamente o found footage incorpora-se às imagens de Child, construindo uma montagem de rituais visuais entre garotas se preparando em uma cerimônia de comunhão na igreja e famílias se divertindo em um parque de diversão. Aqui, vejo uma característica recorrente de Child em filmar pela janela, como se fosse um voyeurismo da imagem, do que se retrata e como se retrata. Me chama a atenção também o uso da tela dividida em duas ou três imagens, mostrando uma similaridade em diferentes planos ou cenários.
A seguir temos The Future is Behind you (21 min), que constrói uma narrativa completamente diferente à anterior, utilizando o home movie de uma família da Bavária dos anos 30 para ficcionalizar uma crônica familiar entre duas irmãs que discutem sua origem e a ideologia política de sua família. Child introduz os personagens, as complexidades e discursos através de letterings que constroem a narração do filme, embora não tenham sempre uma relação direta com a imagem. A ficção, biografia e linearidade se misturam em fragmentos, quando a narração de repente volta-se ao espectador: “Por que a câmera convida a uma despedida?”, “Memórias são somente confiáveis quando servem como explicação?”
Ao concluir com Surf and Turf (25 min), Child nos mostra uma perspectiva peculiar da costa Jersey, retratando uma comunidade misturada de novos e antigos imigrantes, entre judeus, irlandeses e italianos. Imagens do cenário do subúrbio americano: as ruas, as casas, os jardins, se repetem mostrando uma similaridade. Em diversas entrevistas, misturadas entre idosos sentados num clube e jovens surfistas procurando por liberdade, Child nos expõe a esta disputa e ambiguidade entre gerações e imigrantes em uma composição de vozes, ecos e imagens piscantes do cenário suburbano numa América capitalista. Esse filme se tornou uma grande referência de um retrato em fragmentos da experiência imigrante, e me fez entender muitas questões sobre o ser mexicana neste país e numa cidade que foi literalmente fundada por mexicanos. Entendo como as contradições existem até os dias de hoje, quando ainda há uma resistência às pessoas de origem humilde que migram para bairros mais nobres e a discriminação entre próprios latinos e imigrantes. O brasileiro aqui não quer se confundir como um latino mexicano. Curioso e trágico, não?



Cake and Steak / The Future is Behind You / Surf and Turf
Algo que vejo claramente em Child é o interesse pela história mundial e a necessidade de reescrevê-la nos seus filmes. Sendo uma mulher feminista e com convicções políticas ferrenhas à esquerda, vemos um filme que espelha novamente essa busca por um passado que é ainda presente: Acts & Intermissions: Emma Goldman in America.
Esse filme sobre “a mulher mais perigosa na América” é um ensaio em colagens sobre a trajetória da anarquista Emma Goldman durante seu tempo nos EUA. Os recursos de Child são similares, combinando títulos e vozes na narração, e a mistura de found footage antigo e recente com uma encenação ficcional que desvela a figura histórica que foi Emma Goldman. Child aborda as análises e polêmicas em torno de Goldman e cria uma relação com o presente, mostrando imagens documentais contemporâneas de mulheres trabalhando em fábricas de têxteis e vídeos de confrontos policiais durante protestos políticos. Assim como o nome do filme anterior: The Future is Behind You…
Falando em tempo, penso no processo criativo dela. Em alguns casos, a cineasta comenta que teve a ideia do filme há uma década, e só após esse período conseguiu concretizá-lo. Em tempos onde a “indústria” nos exige que aos 30 e poucos estejamos na transição de emergentes para estabelecidas, me pergunto se podemos esperar que nossas ideias nasçam sem a exigência da contemporaneidade. Tenho ideias que continuam em pensamento há 10 anos, e sinto culpa de não tê-las concretizado até agora. Após Child, a culpa diminuiu um pouco.
A.
São Paulo, não-carnaval, 2021.
Amiga,
A mexicana Ximena Cuevas alegrou minha impossibilidade de carnaval por aqui.12 Seu humor escrachado e sua liberdade de criação reafirmam minha motivação para seguir nesse caminho.
A carreira de Cuevas começa de forma curiosa. Seu primeiro trabalho foi na Cineteca Nacional da Cidade do México, cortando cenas que seriam censuradas pelo governo. Essa experiência parece ter influenciado bastante o trabalho autoral de Cuevas, principalmente no seu uso de found footage. Trechos de filmes clássicos mexicanos ganham novos sentidos, geralmente irônicos, em sua montagem, questionando o papel da cultura e das imagens na construção da identidade nacional do país. Há também uma crítica à colonização cultural muito presente. No filme Cinépolis (2003), reutiliza imagens da filmografia mexicana e estadunidense para inverter o sentido do termo alien (usado pelos americanos para caracterizar imigrantes ilegais, em sua maioria, mexicanos). Nesse filme, os invasores alienígenas são os estadunidenses, com sua cultura de massa e suas imagens cinematográficas que vendem o “american dream” para os países ao sul de sua fronteira —inclusive e fortemente o Brasil.
Vendo os filmes dela e ao tentar digerir tantas referências que seguramente são mais claras para quem cresceu assistindo filmes e TV mexicana, me senti muito próxima a você. Eu também cresci assistindo novelas e assistindo programas trash de televisão, mas há algo de muito especifico no melodrama mexicano, que Cuevas explora a fundo.
O videoclipe Corazón Sangrante (1993), uma parodia da iconografia nacionalista do México, é uma maravilha kitsch, com abuso de efeitos, cores e melodrama. Diversas representações da mulher mexicana são exageradas em cena, da ranchera à Santa, da mulher fatal à masoquista, enquanto a música conta a história de uma mulher sofrendo por um coração partido. É curioso que o videoclipe seja uma das formas comerciais que mais se aproxima e se apropria das características formais do experimental.
Em muitos de seus curtas, Cuevas se coloca em frente à câmera, ela própria se filmando. Em Diablo en la piel (1998), a cineasta realiza truques de atrizes para chorar em cena, entre eles, passar Vick VapoRub no globo ocular e pimenta na pele ao redor dos olhos. O vídeo é angustiante, mas o que fica é a atmosfera dramática de Cuevas com os olhos inchados, chorando. Vemos o dispositivo, o mágico revela seu truque, mas ainda assim, nos engana. Diablo me lembra a autoflagelação e a relação com o body art das primeiras videoartes aqui no Brasil, com Letícia Parente costurando o próprio pé em Marca Registrada (1975) ou Sônia Andrade deformando seu rosto com um fio de nylon em 1977.

Diablo en la piel / Corazón sangrante
Sua série contínua Dormimundo, composta por diversos vídeos curtos de 2 a 5 minutos, é um retrato peculiar do cotidiano mexicano. Cuevas registra momentos íntimos, banais, de alegria ou tristeza. Ela experimenta com a filmagem e o enquadramento para encontrar na edição e pós-produção o sentido e emoção que quer retratar. Uma limpeza de pele, férias à beira da piscina, uma canção que origina uma briga de casal. Qualquer fato corriqueiro é passível de transformação aos olhos de Cuevas. Usando trilha sonora carregada, máscaras de pós-produção, cartelas em fontes cafonas, a vida é registrada como uma sequência de sketches cômicos e ao mesmo tempo reveladores.
Uma de suas obras mais ousadas não é exatamente um filme, apesar de ter sido editada e lançada por Cuevas como tal. Trata-se de uma performance que a artista fez em um programa de televisão de fofoca e confusão chamado Tómbola (2001), uma espécie de Luciana Gimenez do México (você deve conhecer melhor do que eu). Cuevas participa do programa, em que subcelebridades expõem seus ridículos e são aconselhadas por “profissionais”. Quando chega sua vez, Cuevas tira uma mini câmera de sua maleta e a aponta para a lente do programa, se dirigindo diretamente ao espectador, dizendo estar à procura de alguém que esteja “interessado em sua própria vida.” Por um lado, a intervenção pode parecer elitista, como os “intelectuais” que julgam quem assiste BBB enquanto o Brasil desmorona. Por outro, a postura é de uma abertura e ousadia imensa. Que cineasta hoje teria coragem de “passar vergonha” participando de um programa desses?

Tómbola
Cuevas parece motivada por uma vontade de filmar tudo ao seu redor, sem se importar com um resultado ou um “plano de carreira”. Esse último é um assunto recorrente em seus vídeos. Em Contemporary Artist (1999), um vídeo curto, em preto e branco e com uso de fast forward, Cuevas se filma ensaiando para falar com um importante curador de arte. O off faz o papel de seu pensamento, onde reflete de forma irônica sobre o que é trendy ou cult na forma audiovisual. No espelho do banheiro, se enquadrando com a privada, ela ensaia como promover a si mesma e o seu trabalho. Quando decide finalmente falar com o curador, ele já foi embora. Para além do incômodo em ter que se autovender, situação ainda mais comum para cineastas e artistas hoje, o recado é claro: ao pensar demais em como se colocar no mundo das artes, a oportunidade foge.
Acho que Cuevas tem muito a nos ensinar com seu deboche, sua liberdade formal e seu desprendimento. Experimentalismo não é equivalente a sisudo ou a chato.
F.
Nova York, primeira nevasca na vida, 2021.
Amiga, te escrevo agora desde o inverno rígido de Nova York com a vontade de estar pulando o carnaval colada em uma imensidão de gente.
Começo a pensar sobre os espaços que queremos ocupar. Acredito que a prática do experimentalismo também vai além das telas de projeção. Às vezes, ele precisa extrapolar e ocupar espaços mais diversos. No caso de Cuevas, me impressiona o acesso que ela oferece do seu trabalho nos seus canais online. Um desprendimento de uma lógica de distribuição de filmes que o cinema experimental poderia também radicalizar. É algo que admirei muito da minha paisana e ter um portal aberto para conhecer seu trabalho e um pouco do seu mundo foi motivo de grande felicidade para nós.
Mantendo as referências latinas, compartilho agora sobre o mundo ao redor de Narcisa Hirsch, alguém que chegou da Alemanha a Buenos Aires no início dos anos 30 a passeio e, após a guerra impedir sua volta para a Europa, decidiu ficar. Considerada como uma das precursoras do cinema experimental na América Latina, Hirsch tem criado filmes há décadas que retratam temas existenciais como o amor, a materialidade do corpo, erotismo, o nascimento e a morte. Similar à Joyce Wieland, Hirsch começou como pintora nos anos 60 e também expandiu os espaços da tela de pintura em busca de um novo tipo de espectador. Ela começa a encenar happenings através de um trabalho coletivo em uma comunidade de artistas formada com integrantes da UNCIPAR, que na maioria foram os que iniciaram a formação do cinema independente e experimental da Argentina. A essência da criação coletiva foi algo crucial no trabalho de Hirsch naquele momento, na procura de fluir de uma linguagem para outra. Apesar de Hirsch não se declarar militante e nem seguidora de nenhum “ismo”, acreditava no papel político dos seus trabalhos como uma ruptura da tradição e na intervenção de espaços.
A partir dos registros fílmicos desse processo criativo e as performances dos happenings de Manzanas (1973), Bebés (1973) e La Marabunta (1967), ela começa a focar em filmes. Essa última foi a obra mais representativa da junção entre performance e filme, e consistiu em um esqueleto de uma mulher gigante recheado de comida e lixo onde pombas circulavam ao redor. O inusitado deste projeto é que ele foi apresentado no famoso Cine Coliseo de Buenos Aires junto com a estreia do filme Blow Up de Antonioni. O registro fílmico resulta em imagens de uma multidão da classe média se debruçando no esqueleto para devorar a comida, evidenciando uma crítica social de Hirsch sobre o público intelectual “ilustrado” de Buenos Aires em um cenário prévio à ditadura.

Retrato de una artista como ser humano
Ela realiza também o filme Retrato de una artista como ser humano (1973), que consiste em um compilado de happenings realizados com Marie Louise Alemann e Walther Mejía como um estilo de diário pessoal sobre experiência de criação coletiva. As imagens não seguem uma linearidade e por vezes criam um clima surrealista, sondando o formal e o pessoal, o íntimo e o coletivo.
O que me ressalta nessa obra é perceber a potência feminina nessa criação coletiva, e ver claramente que as cenas mais transgressoras são inclusive representadas por ela, como por exemplo quando ela come um fígado cru.
Taller
O que se vê e não se vê, o que se projeta e o que está por trás da projeção são conceitos que Hirsch explora em alguns dos seus filmes como Come Out (1971) e Taller (1975). Em Come Out, a imagem é introduzida fora de foco com o som de uma frase em loop e entrecortada, para que somente ao decorrer do filme o plano vá se abrindo para evidenciar a imagem “real”: uma vitrola tocando um disco. No final, um segundo plano revela a música que estávamos ouvindo em fragmentos: Come Out de Steve Reich. Já no caso de Taller, vemos apenas um plano sequência de uma parede do atelier de Hirsch, que utiliza da narração para descrever o que se encontra fora de quadro, fazendo com que o espectador reproduza mentalmente as imagens por conta própria.
Me interessa as relações que Hirsch cria em seus filmes, sobre o interno e externo, o doméstico e místico, o que permanece e a amplificação do lírico. Concluo então com Aleph (2005)13, uma adaptação livre do livro de contos do Jorge Luis Borges, onde nas palavras de Hirsch: “O Aleph é o ponto onde o tempo diacrónico e sincrónico se encontram, e nossa vida pode ser uma experiência de ‘toda uma vida ou de um minuto’”. Em uma sequência de imagens ditadas pelo tempo de um relógio que entra em cena como interrupção a cada segundo durante o período de 1 minuto, o filme faz alusão a instantes da vida como representação do infinito e eterno. O início mostra a morte de uma ovelha para depois seguir com o nascimento de um bebê, entrelaçando o tempo que passa com imagens de paisagens, uma criança crescendo, uma mulher sofrendo violência doméstica e o envelhecimento.
“Cada segundo representa uma instância da vida do nascimento à morte. O Aleph é o ponto que concentra essas instâncias.” Impressionante como por um minuto somos capturados neste ritual fílmico que Hirsch cria e ao tratar de temas como a morte — tema que me fascina como exploração fílmica — não poderia deixar de citar esta obra como uma das favoritas.
El Aleph
Me intriga também sua procura pela liberdade em seu trabalho além da forma. Hirsch indicava que existia uma emancipação ao trabalhar com um orçamento enxuto, pois se adicionava a liberdade de não ter que vender. Assim como outras cineastas que mencionamos, ela também não tinha pressa, “um frame por dia, ou a cada ano”. O experimental para ela era um ato subversivo, o que faz com que poucos consigam manter uma lealdade e muitos migrem para outro tipo de cinema)14
A.
×
Após um ano de trocas, chegamos aqui, inspiradas pela trajetória dessas seis mulheres cineastas e artistas que lutam por um cinema não industrioso e não tradicional, a partir de práticas experimentais que priorizam suas liberdades e autonomias criativas.
Essa imersão em andamento resulta de uma necessidade de pertencer como cineastas, como latino-americanas, como mulheres em um meio predominado por referências estéticas masculinas. Entre nós, traçamos novos caminhos e, ao mesmo tempo, valorizamos vozes que até então pouco conhecíamos. Agora, nesta tênue linha entre arte e vida, nos perguntamos: para onde seguimos?
Atualmente nos encontramos em um contexto social e político similar e distinto entre os EUA do recém-eleito Biden, mas ainda com o trumpismo vivo, e o Brasil de Bolsonaro. Com a dura realidade de uma pandemia global, nos deparamos com limitações de produção e financeiras no cinema. Nesse sentido, o radicalismo acaba tornando-se uma forma de afirmação para continuar fazendo filmes. Nossas limitações acabam sendo escolhas impostas e adaptam-se às características dos filmes feitos pelas mulheres que nos estimulam, como os filmes caseiros DIY (Do It Yourself), a câmera na mão e o cinema autodidata.
Existia e existe — para as ainda atuantes Child, Thornton e Cuevas — o objetivo de radicalizar a forma, derrubar as normas e criar uma arte do ponto de vista da mulher. Elas, entre tantas outras, não se tornaram apenas uma homenagem ou alusão estética para nós, mas sim um fio condutor de um passado que se torna muito presente — uma inspiração ativa. A partir disso, podemos começar a imaginar um caminho para uma história do cinema experimental escrita, feita e compartilhada por mulheres, incluindo nessa trajetória as latino-americanas.
Buscamos uma história de um cinema experimental presente que continue pelo mesmo percurso de rupturas e liberdades diante das amarras hegemônicas do cinema. Dessa forma, insistimos também em nos inserir como cineastas experimentais latinas nessa narrativa em (des)construção.
CARTA ABERTA DE AMOR AO CINEMA SAPABONDE(ING)
Esta carta foi endereçada a Carol Rodrigues, Cris Lyra, Bruna Linzmeyer, Érica Sarmet, Lívia Perez, Juh Almeida, Noá Bonoba, Rafaela Camelo, Yasmin Guimarães e a todas as pessoas realizadoras que estiveram presentes nos encontros do Curso Figurações Lésbicas no Cinema, conduzido por Adriana Azevedo, Alessandra Brandão, Carol Almeida, Érica Sarmet, Tatiana Carvalho e por mim. Ela foi lida na última aula do curso. A despeito desse endereçamento, a carta também quer chegar às pessoas que criam um mundo de imagens habitado pela existência, o desejo, a política e, por que não, a utopia lésbica. A elas eu entrego o que vejo, sinto e penso, ínfima oferenda aos pés da potência que têm demonstrado. Escrevo para vocês para, através de vocês, amar o cinema.
Quando eu era criança, meu pai tinha câmera e projetor super-8, comprados nas pechinchas da Zona Franca de Manaus no início dos anos 80. Eu cresci na extensão da Transamazônica. Explico-me: nasci em João Pessoa e meus pais, equilibristas de uma classe média baixa, viram a oportunidade de realocar a família no Acre, onde viriam a ser professora e servidor técnico da UFAC. Esse é exatamente o trajeto projetado da Transamazônica: da Paraíba ao Acre. Entre idas e voltas de Rio Branco a João Pessoa e depois Olinda, Natal, essa experiência do deslocamento constituiu muito do modo como me apeguei a paisagens e imagens.
Entendi que o possível é fluxo. E foi nesse momento formativo que descobri o cinema, no lençol branco estendido na parede fazendo as vezes de tela. Ali projetavam-se os filmes. Ali eu me projetava, deitando naquele lençol com Suzanne Pleshette n’Os Pássaros, exibido em versão resumida. Sim, meu olhar de criança sapatão já fazia tombar a parede e transformava em tapete o lençol branco que indiscriminadamente acolhia todo tipo de imagem, de desenhos do Pica-Pau a filmes experimentais. E pedia para ver de novo, a titilação provocada pelo sorriso sardônico de Pleshette e pelo terror do ataque dos pássaros formando uma massa de afetos que, não tenho dúvidas, criou o solo necessário para uma cinefilia sensorial.
Acostumei-me com o deslocamento, com o desencaixe das coisas. E isso me fez bem. Mas por que partilho essas memórias de formação cinéfila? Porque quero falar dos deslocamentos e desencaixes que os filmes que vocês realizam, vocês realizadoras lésbicas de uma geração recente que cintila apesar de tudo, vocês que me provocam e, volto a dizer, que me permitem amar ainda mais profundamente o cinema.
Gosto da palavra desencaixar porque ela remete exatamente ao trabalho de não mais fazer caber nas caixas, nas caixinhas, nos caixotes. Algo não encaixa bem e, então, desliza. Recusar o encaixe, o encaixotamento. Amar a xota e o velcro, que fecha e abre, que, por vocação, une sem grudar.
O que vocês, criadoras lésbicas de imagens em movimento, estão fazendo é esse trabalho de desencaixe. Seus corpos, desencaixados das estruturas heterocispatriarcais. Suas narrativas, desencaixadas das expectativas de um mundo que só sabe reproduzir a si mesmo. Vocês são geniais. Colam como velcro nas estruturas quando necessário, mas como velcro, desencaixam quando possível. Uma forma ao mesmo tempo tática e estratégica de se mover pelos espaços institucionais, contrabandeando imagens e histórias. É preciso experimentar na carne esses percursos para criar o conhecimento e desenvolver formas de resistência. É preciso ser do rolê.
Mas é também da ordem do bonde essas formas táticas e estratégicas. Do bonde(ing), como gosta de grafar a Alessandra Brandão, porque estamos falando isso, de bonde que é bonding. O que nos une, o bonde andando. O que nos une, pegar esse bonde andando e sentar à janela, ao lado de uma mulher que amamos. Então vocês formam esses bonde(ing)s nos sets, nas equipes. Pois aqui estamos também falando de uma atividade remunerada. Quem chamará as mulheres para suas equipes para que o nosso quinhão do latifúndio do audiovisual brasileiro seja mais justo?
O latifúndio audiovisual cisheteropatriarcal branco, o macho adulto branco sempre no comando: esse latifúndio ameaça destruir os mundos, assim como o latifúndio das terras ameaça destruir os mundos, assim como o latifúndio epistemológico ameaça destruir os mundos. Aos poucos acampadas nesse latifúndio, vocês vão plantando imagens. Mal sabem eles, os donos do latifúndio, que as cercas e demarcações não são inexpugnáveis. Táticas e estratégicas, vocês encontram as brechas. Um dia, eu sonho, eu tenho essa imagem na cabeça, eles acordarão em pânico ao perceberem que o audiovisual já estará tomado pelas sapas e bichas, pelos pretos e pardos, pelos feios, pelos sujos, e eles nada mais poderão fazer porque o mundo que vocês imaginam hoje terá redemarcado todo esse espaço audiovisual.
Nesse rolê, espero não perder o bonde. Por isso, me desloco. Faço perguntas aos seus filmes. Às vezes eles são bem eloquentes nas respostas. Às vezes, lacônicos, o que me irrita, pois sou espectadora mimada. Mas muitas vezes, eles me surpreendem com a delicadeza amorosa com que me interpelam. Do que tenho visto, uma figura em especial me apareceu nessas respostas amorosas: a sapatão de terreiro.

Na Paraíba, o terreiro é o terreno ao redor da casa, incluindo jardim, laterais e o quintal. E no terreiro das casas acontecem coisas maravilhosas em seus filmes. Lésbicas jovens harmonizam um funk misógino, transformado por elas em ode tesuda à cunilíngua sáfica (Peixe, 2019, de Yasmin Guimarães). Sapatonas de favela fazem o carnaval (no delicioso videoclipe de Tambores de Safo, de 2019). O quintal, o terreiro, é figurado por vocês como um espaço liminar, entre o público e o privado, mostrando que a experiência lésbica é marcada por essas permeabilidade. O quintal, o terreiro, é mesmo lugar de cura, onde as amigas lésbicas acolhem umas às outras, também com o canto, dessa vez exorcizando a memória do trauma das bombas e dos tiros (Quebramar, 2019, de Cris Lyra).
A lésbica de terreiro é invenção de vocês, porque vocês sabem que “onde há lésbica, a lésbica falta”. O terreiro é também espaço da casa que não está ligado à intimidade conjugal do quarto, o que abre a possibilidade de uma miríade de configurações de relação. Então é preciso investigar os espaços onde a lésbica existe e falta e lá está o terreiro, assim como está esse espaço clássico da cultura lésbica, o bar. Eu tenho saudade de uma coisa que nunca vivi com vocês: uma mesa de bar, um karaokê pé-sujo. Saudade do ainda não vivido, né minha filha?
Então, o que queria, com essa carta, é também cantar. Cantar vocês. Cantar vocês. Imantar nossos afetos. E queria dar um nome. Não porque eu acredite na violência adâmica de dar nome a tudo e, com isso, diminuir um tanto a força de existir daquilo que ainda não tem nome ou nunca terá.
Eu queria dar um nome ao cinema de vocês para guardar no meu repertório esse encontro com um cinema que já amo, com quem já moro e crio dois gatos: o cinema do sapabonde(ing). Não vai colar, a expressão é horrível, não tem a menor chance comercial, mas é por aí.
Cantar vocês, cantar com vocês um amor profundo pelas mulheres, imaginadas nas suas existências plurais. Alguém poderia até me perguntar, Rama, por que você ama as mulheres? Não sei. Essa pergunta meu coração nunca me fez. A pergunta mais importante é como amá-las melhor.
TALVEZ EU FAÇA CINEMA PORQUE GOSTO DE POESIA: ENTREVISTA COM GLENDA NICÁCIO
Talvez eu faça cinema porque eu gosto de poesia é a primeira de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins.
A série de entrevistas tem o intuito de refletir sobre o cinema proposto por essas mulheres, em sua dimensão política e estética, afinal, não só os filmes em si, mas a forma como são realizados (desde o financiamento até a linguagem escolhida) dizem de um posicionamento ancorado no compromisso com a emancipação, a autonomia, a transmissão de valores e significados e com a criação de um imaginário e de uma estrutura social onde, mulheres e homens negros, são pertencentes. Partindo da forma como olham, ouvem, sentem e percebem o mundo, uma gama de cineastas negras têm encabeçado um audiovisual que dá centralidade à cultura afro-brasileira como formadora social. É sabido que as políticas que construíram as bases para a ideia de que vivemos uma democracia racial passam sobretudo pelas imagens. Entretanto, se mudarmos a ótica da harmonia racial e passarmos a observar com mais profundidade a contribuição de uma cosmovisão construída na diáspora africana, podemos encontrar, por meio do cinema, outros paradigmas interpretativos para a história do Brasil.
As conversas ressaltam o comprometimento em criação de imagens para a emancipação da população negra e abordam suas trajetórias pessoais, os usos e desafios da linguagem audiovisual, a transmissão de mitos, valores e simbologias e o cinema, como uma expressão de seus olhares.
Nossa primeira entrevista publicada é com Glenda Nicácio. A conversa aconteceu em outubro de 2019 quando nos encontramos na décima edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. Glenda é mineira, nascida em Poços de Caldas, e encontrou, pelas andanças da vida, a possibilidade de fazer cinema na abençoada cidade de Cachoeira (BA). Ao lado de Ary Rosa, tem fomentado a cena cinematográfica do Recôncavo Baiano. Na entrevista conversamos sobre seus anseios como cineasta, o processo de realização de “Café com Canela” (2017), sobre poesia e negrura. Faça uma boa leitura.

Lygia Pereira — O “Café com Canela” me impressionou muito, por todos os símbolos que ele mobiliza, mas também por uma questão de linguagem. Ver tantos personagens negros, ver uma história sobre afetividade, e tudo isso. Mas foco muito na questão da linguagem, na transmissão de valores, porque é um filme que me parece dialogar muito com a cultura de Cachoeira (cidade do Recôncavo Baiano), um filme que tem muito a ver com a cidade e com a cultura negra de Cachoeira. Eu fui pra lá no começo do ano, e embora tenha ficado só três dias, eu senti um pouco isso, além de outras coisas que eu já vi e já li sobre a cidade. E gostaria de começar com você falando um pouco sobre você: como você chegou ao cinema, quem você é, de onde você vem?
Glenda Nicácio — Acho que eu sempre tive uma vontade de compartilhar muito grande, quando criança eu ficava na creche e escola pra mim sempre foi o melhor lugar, porque era aquele lugar de ter amigo, de ter companhia, de fazer coisas junto, de ser criativo e produtivo. Penso que o cinema é o mesmo processo também: um lugar de você ter companhia, de você não estar sozinho e poder compartilhar alguma coisa, ser criativo e se expandir, é muito vida! Esse cinema que eu consigo fazer e que é possível pra mim.
Eu cresci em Minas Gerais, no interior, em Poços de Caldas. Minha família nunca foi de sair muito, de viajar. Sendo assim, eu cresci muito lá, achando que o mundo era lá, e quando eu cheguei no terceiro ano do Ensino Médio, sempre estudando em Escola Pública, pensei em arrumar um emprego pra conseguir juntar uma grana pra continuar meus estudos: juntar uma grana pra pagar um cursinho e talvez entrar em uma faculdade, mas também não era uma coisa que eu sabia como funcionava, pois na minha família não havia nenhuma referência de alguém na universidade. Mas eu estava focada nisso. Eu comecei a trabalhar em uma sapataria, e no meio desse processo, me apareceu o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e eu fui fazer a prova, e por desencargo de consciência eu me inscrevi no SISU (Sistema de Seleção Unificada) e fui fazer a simulação no site com minha nota, e deu que eu estava aprovada. Eu tinha que escolher algumas opções de curso, e escolhi teatro e cinema, mas eu nunca tinha tido relação com o cinema… minha relação com o cinema era a “Sessão da Tarde”. Antes de fazer cinema, eu havia ido a um cinema só três vezes na minha vida, porque não havia uma cultura ou um hábito de cinema em minha vida. Lembro que vi a grade de matérias do curso de cinema e achei que tinham coisas que me agradavam: fotografia, questão da atuação, direção de atores, e tudo aquilo passou a me agradar, como o teatro. Mas tinha um preconceito muito grande dentro da minha família com o teatro, primeiro que eu já ia fazer uma faculdade, o que não era um curso técnico, pois pra eles um curso técnico era muito melhor, pois é menos tempo e mais garantido. Meu pai havia feito curso técnico, então ele acreditava muito nesse processo, já faculdade era uma coisa que não havia referência, ainda quatro anos estudando, e mesmo quando você entra é difícil se manter, é difícil fazer universidade nesse sentido. Aí eu coloco no SISU as opções “teatro” e “cinema”, e de repente eu passo no curso de cinema na UFRB (Universidade Federal do Recôncavo Baiano). Universidade que eu não conhecia, tampouco havia escutado falar de Cachoeira, e me veio muito essa sensação de “é isso!”.
Eu lembro que pra minha família era um momento de muita dureza, pois meu pai e minha mãe estavam desempregados e mesmo assim eles toparam. Meus pais foram muito foda! Tem todo um jeitinho mineiro de cercar e de cuidar, e aí, eu decidi ir pra Bahia umas duas semanas antes de ir fazer a matrícula, não foi uma coisa de projetar por meses, foi mesmo assim “então tá, daqui quinze dias vou pra Bahia”. E não sei de onde veio, só lembro que era uma sensação de que era uma chance muito grande na minha vida que eu ia perder e não ia se repetir. Aí eu fui, e ainda era muito nova, fui pra lá eu tinha acabado de fazer dezoito anos.

Chegando em Cachoeira fui morar em uma república com muita gente. Era um momento em que a gente não tinha muito o que fazer, chegando na cidade, nossas famílias muito longe, assim, rolava muito de nós estudantes ficarmos perto, juntos: assistirmos filme em casa, arrumarmos qualquer motivo para ficarmos perto. É bem legal pensar isso, porque, por exemplo, eu morei com o Ary (Ary Rosa parceiro de produções de Glenda, dividindo a direção dos filmes Café com Canela, Ilha, Até o Fim e Voltei!), pois ele é da minha turma, de 2010. Eu encontro ele lá, nós viramos amigos, dentro de um grupo grande de amigos, e vamos cada vez mais se aproximando, até o momento que passamos a morar juntos. Eu e Ary passamos sete anos dividindo casa. Até uns dois anos atrás nós ainda dividíamos casa e isso foi muito importante pra nossa organização de cinema, porque nossa casa era também nosso escritório, então começamos uma parceria de vida, de cinema, de vida, uma parceria de tudo. Foi um processo muito forte de se encontrar e dizer “isso é a gente e nós vamos botar a coisa pra frente!” Perguntávamos “bora botar a coisa pra frente? Bora botar a coisa pra frente!”. E viver junto ajudou muito nisso, compartilhar uma casa ajudava muito nisso, quando você estava falando da rotina, isso era importante, pois minha rotina com o Ary era muito compartilhada: a mesa que a gente comia, era a mesa que a gente se reunia, a mesa que a gente bebia, enfim, sabe a mesma mesa que era tudo. Isso foi fundamental, porque pensar cinema era o tempo todo. De acordar e tomar café juntos e ter uma ideia, e já estávamos ali trabalhando. Então assim encontrávamos formas de trabalhar e pensar só cinema, falando cinema e pensando cinema a maior parte do dia e o legal é que conseguimos sistematizar tudo isso: sistematizar essas conversas em trabalho e produção, e pragmatizar, pois o Ary é muito pragmático, mais do que eu inclusive.
L — Caminhando mais pra frente, pro presente. Peço que você fale como vocês chegaram nestes dois filmes, Café com Canela e depois Ilha.
G — O Café com Canela era um roteiro de um curta-metragem feito pelo Ary para uma disciplina, ele escreveu e depois continuou escrevendo e de repente o curta virou um longa, mas sem essa pretensão de “escrever para virar longa”, foi um processo. Ele escreveu em 2010 o roteiro do Café, mas a gente só inscreveu o roteiro em um edital em 2014, já havíamos inscrito em outros editais antes, mas que foi realizado, somente em 2014. Então foram anos de muita maturação do roteiro, pois como a gente morava junto, nós tínhamos lugares de muito acesso e troca. E eu amo muito os personagens do Ary, desde o começo, fico apaixonada e defendo os personagens dele melhor que ele. Amor de verdade, pois gosto muito dos lugares que ele cria, a forma com que ele se conecta. Deste modo, eu acho que o Café teve esse período de maturação que foi muito importante, foram uns três anos: de 2010 à 2014, houve várias intervenções, até mesmo quando estávamos gravando. Por ser nossa primeira experiência de longa-metragem e de não termos uma forma, era muito de lermos, creio que o roteiro teve uns trinta tratamentos. Aí passamos por todo esse processo de maturação e começamos a fazer inscrição nos editais até que conseguimos em 2014 no edital de Arranjos Regionais (edital da Agência Nacional de Cinema) em parceria com o IRDEBE (Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia), que era um edital que fazia licenciamento também, assim a produção depois era transmitida na TV estatal e pública. Foi o momento de arriscar tudo e de falar “se não for dessa vez, não sabemos quando será de novo”, o mesmo sentimento do início quando eu vim para a universidade, “se eu não entrar agora, não sei se entro depois”, acho que o Café também foi isso. E nós sempre tivemos isso de uma forma de estar preparado para esses momentos, essa necessidade de termos que estar pensando a frente, para conseguir viabilizar a possibilidade da produção. Esse momento foi muito importante, pois todas as vezes que nós fazíamos a inscrição, havia alteração no projeto em comparação ao original, e o último projeto que a gente fechou, logo quando acabou, a gente falou: “Isso não é um filme, eles vão ter que aprovar, porque isso não é um filme, é uma revolução”. Porque era um projeto muito audacioso o que a gente propunha, eram coisas propostas não por discursos, mas sim por necessidade de existir, o único jeito de dar certo era isso aqui: assumindo e aceitando as precariedades do lugar que estávamos vivendo e também do que a gente era. Assumir todas essas precariedades e falar “tem isso, mas o que podemos fazer com isso?”.
Eu gosto de dar um exemplo: no Café fizemos um processo de era o casting de atores porque acreditávamos que íamos achar a protagonista na comunidade — no caso a Violeta, porque a Margarida já tínhamos certeza que seria uma atriz, já havíamos pensado na Valdinéia Soriano e ela já tinha aceitado — já a Violeta, vieram um tanto de atrizes e dizíamos que nenhuma se encaixava para ser a Violeta. Por isso fizemos um casting em cinco cidades do Recôncavo e também em Salvador procurando a protagonista, acabou que veio a Aline Brunne que inclusive é do curso de artes visuais da UFBR de 2010, ela entrou junto com a gente, tivemos muita proximidade nesse processo de estarmos na universidade juntas, de sairmos juntas, e ela foi fazer o casting porque andava muito de bicicleta pela cidade. Todo mundo da produção dizia que só via a Aline na personagem quando lia o roteiro, lembro-me que no dia que estávamos saindo pra conversar sobre o casting com a parte da produção que o Ary havia feito nas outras cidades, e nesse momento a Aline passou na nossa frente, aí nos olhamos e pensamos “será isso um sinal?” (risos…)

Nós fizemos o casting, encontramos a personagem e depois fizemos uma oficina de cenografia que foi a coisa mais maluca do processo, depois até nos perguntamos por que havíamos feito isso? Pois não tínhamos em Cachoeira um centro, um grupo de cenografia, e ao mesmo tempo não tínhamos habilidade, porque eu estava assumindo a direção de arte, tinha feito cursos e tal, mas não tinha habilidade de trabalhar pro nível que precisávamos, que era de construir uma casa, pois a casa da personagem Margarida foi toda construída, toda de estúdio. Porque acreditávamos nisso também, que a locação era importante pra personagem da Violeta, porque era um dos bairros mais populares que era no Caquende, toda uma muvuca e tal, e a casa da Violeta era ali, a casa de uma pessoa de verdade, a pessoa saiu da casa pra gente gravar. Já a Margarida não, foi em um estúdio, num galpão na zona rural, e tudo foi construído, tudo fake, né…
L – Faz bastante sentido, porque tem aquela coisa das paredes que reduzem, aquelas coisas escorrem, é muito um universo onírico. Então o estúdio realmente possibilita isso.
G – E pensar nela (Valdinéia Soriano) enquanto atriz e estar nesse lugar, né? Porque é diferente, ela já tinha gravado no Caquende, e outra coisa é que gravamos, ao longo de todo filme, tudo com todo mundo. E de repente, todos foram embora e ficou só a Valdinéia pra gente finalizar essas cenas que eram só com ela, então foram períodos só com ela. Pois uma coisa é ter equipe e elenco, mas não, estávamos em um lugar isolado e só tinha ela em uma casa totalmente construída, e eu não consigo pensar que isso não afete a forma da relação e da construção, que são fatores externos que, de certa forma, colaboram e atravessam.
Voltando à oficina de cenografia, era pra umas trinta pessoas, e o que a gente não queria era contratar uma equipe de Salvador. Nossa equipe era muito grande e toda composta por estudantes e/ou recém-formados pela galera da universidade e/ou da cidade. Pra cenografia a gente chamou três pessoas: duas de Cachoeira e uma de Salvador, mas que tinha proximidade; com o intuito de eles fazerem uma oficina, eles eram cenotécnicos do filme e ao mesmo tempo eles eram professores, que organizaram essa oficina de cenografia com trinta pessoas: 10 pessoas da equipe de arte, 10 pessoas da comunidade em geral — dentre universitários e moradores — e 10 pessoas que eram alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio.
L — Você falando sobre esse processo, isso denota duas coisas: primeiro, da falta de recursos, pois acho que fazer um longa-metragem, embora eu não saiba o orçamento de vocês…
G — Era quase 800.0000 (oitocentos mil).
L — O que não é muito dinheiro.
G — Não, principalmente pro Café, por exemplo, o orçamento do Café é o mesmo do Ilha, mas o Ilha tem um processo mais mínimo, reduzido, em comparação ao Café que tinha muito mais gente.
L — E isso me lembra, por exemplo, quando a Adélia Sampaio fez o Amor Maldito. Foi um processo bem parecido com o de vocês com o Café: fazer um longa-metragem sem dinheiro. Muito nesse lugar das pessoas “comprarem” e “abraçarem” o processo, porque pra participar disso você precisa minimamente acreditar no que está fazendo, haja vista que não se está recebendo uma grana volumosa pra isso. Neste contexto, eu fico pensando nessa “coletividade”, nesse processo de se fazer cinema de um jeito mais coletivo mesmo. Não sei se vocês se entendem assim, mas a Edileuza (Edileuza Penha, cineasta negra), quando ela vai definir um cinema negro feito por mulheres negras, ela fala muito desse lugar da coletividade: de algo que é coletivo, mas que passa pela cultura negra da coletividade, temos isso muito em nossas famílias e acho que isso também é levado por nós para o cinema.
G — Sim, totalmente. Por exemplo, quando eu morei sete anos com o Ary, antes morei em outras duas casas. O Ary morava com o Thacle (Thacle de Souza, câmera de Café com Canela), eu morava com a Poli (Poliana Costa, assistente de fotografia de Café com Canela), aí depois o Ary foi morar comigo e o Thacle foi morar com a Poli, e eles são os fotógrafos do filme. Nós criamos essa relação de família, que se expandiu pra vários campos, inclusive pro cinema e é muito pelo cinema que essa sensação acontece. Nós trabalhamos tão juntos, que temos uma certa dificuldade de desapegar das pessoas da equipe. Hoje nós temos um grupo/equipe que são as pessoas que desde o princípio estão com a gente. Porque a gente sempre teve essa coisa de fazer curta-metragem de graça, na “brodagem”. Aí quando nós tivemos dinheiro não pensamos em chamar o melhor fotógrafo do país, mas sim, trabalhar com as pessoas que sempre trabalharam com a gente, principalmente as pessoas que estavam lá, uma coisa que falávamos “imagina, chegar uma pessoa de fora e filmar”. Pois o tipo de estética que nós propomos, enquanto linguagem e tal, é um tipo de estética que dialoga muito com o cotidiano da cidade, de observação da cidade, sabe aquela coisa de estar na fila do pão e pensar “putz, é isso, sabe, entendi”, sempre observando a cidade.
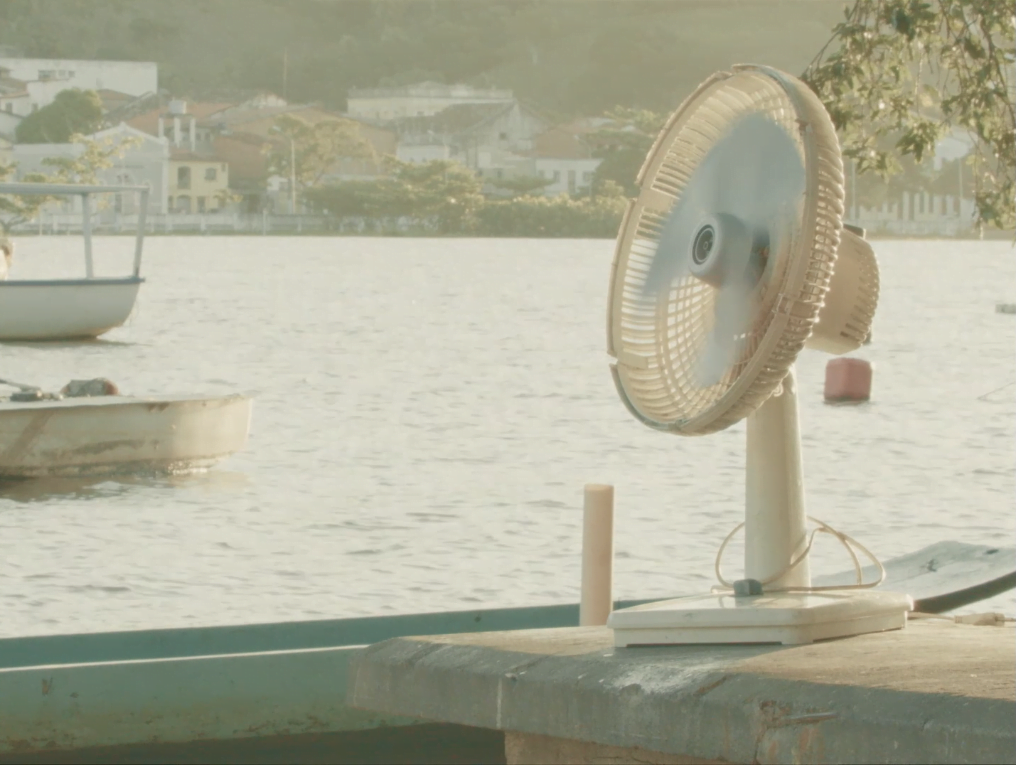
L — Logo no começo, tem uma montagem bem rápida de várias coisas do dia a dia.
G — Algo que é muito Cachoeira, que tem carro de som, tem pessoas passando, mesmo que interiorana, mas muito fragmentada. Esses dias a gente colocou o making of no YouTube, tanto do Ilha quanto do Café. E nós estávamos passando um trecho que falava sobre as costureiras, ou melhor, uma associação de costureiras de Cachoeira que fizeram o figurino do Café. E em certo momento do making of aparecia a Tina Melo, uma super artista visual que foi essencial no processo do filme e especificamente pra direção de arte, pois ela fez cenografia e a assistência de arte. A mãe da Tina é costureira e foi a pessoa que ficou com a comunicação geral com toda a galera da costura. Nós estávamos passando o making of e conversando com o pessoal da extensão e eu falei “gente, essa é a mãe da Tina”, e isso me deu uma sensação de família, de “estarmos todos em casa”, isso me deu muita alegria, de olhar e perceber como o processo do filme foi algo muito “de casa” e pensar isso como uma coisa potente, como algo que pode explodir no sentido positivo e jogar pra frente. Porque essa coisa meio caseira às vezes é um local que buscamos muitas vezes nos afastar, pois parece que pra ser profissional você não pode ter essas rubricas: de caseiro, de artesanal. Mas pra mim fazendo o Café essas palavras chegaram muito pra mim, eu faço um cinema artesanal e isso não tem a ver com a qualidade do produto ou do processo que proponho, eu faço cinema artesanal pois é assim que acredito e porque nós somos “tupi” mesmo, um outro jeito de olhar esse cinema, de ver as coisas, pois a nossa referência de produção vem do dia a dia, e não de um caderno ou livro. Eu gosto de pensar que está tudo em casa, e por isso que gostamos de trabalhar sempre com a mesma equipe, o que é muito gostoso: se é pra contratar pessoas, vamos contratar as que já estavam com a gente, e passar pelos mesmos processos. Pensar que eu nunca havia sido diretora nessa escala grande, de fato assumir uma direção, me vendo como uma diretora, assumindo a direção, e olhar em volta e perceber que eu e outras pessoas da equipe estamos juntas: aprendemos e crescemos juntas, seja a pessoa que fazia a câmera ou o som, nós não tínhamos passado por um outro processo, toda nossa bagagem foi tomada de um mesmo lugar.
L — Como você imprime dentro da direção quem você é? E também a sua subjetividade? E dentro disso, como você se vê enquanto pessoa e subjetividade que produz arte?
G — Nossa, complexo! (risos…). Esses dias me perguntaram “o que eu busco quando faço cinema?”. Eu pensei, meu deus, como saber? Talvez eu não tenha chegado em uma resposta objetiva, mas cheguei a conclusão de que eu busco vida. Porque eu fiquei pensando nisso no contexto em que eu não estou produzindo no cinema, quando a produção de um filme acaba e tal. Pois nós, eu e o Ary ficamos anos trabalhando em uma produção, e tudo é muito desgastante, porque ter que manter a paixão durante cinco anos, em que alguém sempre vai perguntar sobre o tal roteiro, e nós temos que falar sobre. Aí chega o momento de gravar, que é o momento mais delicioso, em que eu falo “gente, façam o que quiser comigo, mas no set de filmagem, não mexa comigo!”. Embora eu seja uma pessoa que não tem características de ser brava, no set eu fico muito “sangue no olho”, brava. Pois o set é um lugar em que há muita gente, por isso necessita de muita disciplina e respeito com o trabalho do outro. Eu tenho uma relação de magia com o set, gosto muito daquele momento do set, sinto-o como poesia, e gosto muito de poesia, e talvez eu faça cinema porque gosto de poesia. E creio que a direção de arte, que é a área que assumo normalmente, é um processo que me ajuda muito a entender a “alma” do filme. Porque pra mim direção de arte não é figurino ou maquiagem, pra mim a direção de arte me permite trabalhar com signo, me permite criar isso e trabalhar com construção de significado e poesia, e tudo isso me ajuda muito no processo de direção. Talvez seja isso, junto a essa coisa do silêncio do set, quando se fala “gravando!”: lembro-me da primeira vez que eu ouvi o silêncio do set e lembrei da frase de uma amiga que o único lugar que talvez tenhamos silêncio no mundo seja no set. Um lugar de paz e silêncio, em que as coisas e o mundo param um pouquinho pra você ver, prestar atenção e ficar o tempo que for. Acho que é um lugar de sagrado, o set pra mim é muito sagrado, e ao mesmo tempo, é um lugar muito pragmático, porque na verdade não tem muita poesia no set. As pessoas quando vão ao set ficam extremamente decepcionadas porque é tudo muito rápido e tal. E nosso set é isso, bem agilizado e tal, mas quando começa a gravar, entra-se em um outro cosmos, em que nos comunicamos com outras ordens, outras energias que eu nem sei de onde vêm. E aí tem o vazio que dá quando você sai, quando tudo aquilo acaba. Primeira vez que eu sinto isso, eu achei que ia enlouquecer. Um vazio muito grande, aí nesse contexto tem que desapegar, porque fazer cinema é você ter que aprender a desapegar.
L — Você falou de signos e símbolos. Dentro disso, eu fico pensando um pouco, uma leitura minha, na personagem da Violeta como a representação de Oxum (orixá das águas doces, das cachoeiras e da fertilidade). Ela até mesmo tem um espelhinho que ela carrega. Eu não sou feita no santo, nem nada disso, embora já tenha ido em algumas festas de candomblé e tudo mais. Mas eu senti em Cachoeira uma coisa muito forte neste contexto, principalmente de Oxum, primeiro que a cidade se chama Cachoeira, um nome possivelmente não dado à toa. Aí sobre isso a relação do filme com a cidade, com o candomblé, com a cultura negra que é muito forte em Cachoeira. Eu fiquei impressionada de ver que na UFBR de Cachoeira 80% dos alunos são negros, isso é muita coisa, e acho que isso no cinema tem muita potência, muito incrível.
G — Em Cachoeira na UFRB, no curso de cinema, eu ainda acho que é um curso com menos negros, não chegando nos 80%, pelo menos em algumas turmas atrás, porque essas últimas estão voltando a se aproximar deste patamar. Agora sobre a Violeta e Oxum, é isso, total. O roteiro já trazia essa aproximação com Oxum, já trazia a informação de que a personagem era filha de Oxum, e isso tem a ver com essa coisa do signo que você estava falando, e isso era essencial. Por exemplo, continuando a falar de Oxum: então há Oxum, e vamos nos aproximar dela, porém, enquanto filme, nós nos aproximamos dela não para extrair, mas sim, para criar a partir dela. Isso é algo que agrada muito em nossos trabalhos: toda a aproximação que fazemos não é para registrar, para transpor ou representar. Eu não acredito nisso e ainda considero muito limitado representar. Por outro lado, eu acredito muito mais em entender como energia que impulsiona, que joga pra fora. Então é o início, é pensar que o movimento de câmera está em sintonia com isso, executando um movimento de câmera que é feito pensando em Oxum. O que ocorre no Ilha, por exemplo, em que temos uma relação com Oxóssi (orixá da caça e protetor das florestas), aí temos um movimento de câmera que se aproxima da dança de Oxóssi. A galera que estava na coreografia tinha toda essa preocupação, havia uma galera de santo também que sabia e podia lidar com isso da melhor maneira, da forma mais leal e justa. Então pra mim é isso, o movimento de câmera é feito a partir de Oxóssi, a atuação é feita a partir disso, o projeto de arte também é pensado a partir disso, o som, etc.

L — Você é feita no santo? Alguém da equipe?
G — Não sou, mas várias pessoas da equipe são. Inclusive isso é muito bom, porque são várias pessoas que vão conduzindo e ajudando ao longo das filmagens, pessoas que falam “olha, vocês estão sentindo tal coisa? Estão percebendo?”. Sempre aparecem pessoas que vem para cuidar…
L — Você falou da câmera, algo que eu não tinha reparado. Mas aí penso também na própria relação da Violeta com as personagens, ela levanta e cuida de todo mundo…
G — Eu acho muito legal pensar que há pessoas que assistem e não entendem ou sabem. Pois o filme se realiza enquanto narrativa, que implica em perda, ou melhor, não há perda, é importante nesse sentido, não há perda, mas quem conhece entende um pouco mais. Pois pra mim é importante conversar com todo mundo, mas quem já sabe da história, vai entender um pouco mais.
L — Foi o que eu percebi na segunda vez que eu vi. A primeira vez, outras coisas me chamaram a atenção. E na segunda vez percebi que era um filme sobre Oxum, um filme regido por Oxum, algo muito bonito. E isso me faz pensar também na estrutura narrativa do filme, na própria linguagem usada. Quando você fala isso da câmera, acho muito importante frisar, mas também penso na estrutura do filme, haja vista que não é um filme linear: que tem começo, meio e fim. Ele é um filme que começa no final, com momentos do passado muito antigo, aí ele volta. Não sei se você já viu, mas ele me lembra muito o Filhas do Pó, da Julie Dash (cineasta negra estadunidense), devido a esta costura, esse modo de entender a narrativa e a história que não segue uma lógica linear, que é diferente de um cinema mais “clássico”, entre muitas aspas, em que você tem “começo, meio e fim”. Acho que quando ouvimos falar sobre a história negra brasileira e da diáspora é sempre algo que está presente, que nunca acaba, que sempre há desdobramentos, em que para se entender o presente, temos que voltar ao passado, então vejo muito a linguagem nesse sentido.
G — Acho que é isso que você coloca, essa coisa da memória, dos sons que ficam ecoando, sons do passado que ficam atravessando. Essa busca, pois o Café também é um filme de busca, em que cada um está buscando uma coisa: a Margarida está buscando a vida, a Violeta está buscando superar cada dia, cada um está buscando uma coisa diferente, mas há um lugar de comunhão e de partilha, que só acontece pelo encontro, pois existe a necessidade do encontro. Acho muito legal tudo isso, e tem algumas camadas que a gente não apreende, você faz e depois vê, e fica meses pensando sobre aquilo, mas quando você joga pro público, é diferente. Relatos de muita gente com histórias de depressão nos debates sobre o filme, e gente que estava em depressão, e após assistir o filme, se salvou naquele momento. Várias pessoas que participaram do filme, por exemplo, a Aline (atriz Aline Brunne), porque ela é a cara do filme né, as pessoas abraçavam ela, mandavam mensagens muito íntimas, de falar “olha, aconteceu tal coisa comigo essa semana, o que me fez pensar em suicídio, mas no domingo eu assisti o Café e o filme foi minha Violeta, obrigado por ter interpretado a Violeta”. Uma vez eu recebi uma mensagem, que era de uma pessoa, que não era amiga, mas era uma colega próxima. Ela tinha perdido um filho, então essa pessoa me mandou uma mensagem que dizia assim: “Eu perdi meu filho num dia de Natal, e no final do mês eu fui assisti ao Café e percebi que eu era a Margarida”. Eu fiquei muito impactada.

O que fazer com o mundo? E creio que eu achei esse lugar no cinema, embora o cinema seja muito pequeno, por isso acho que nossos filmes têm essa vontade de “correr atrás da vida”, por isso que talvez, pra mim, fazer cinema seja fazer vida. Nós sempre tivemos a noção de que a Violeta estava vivendo, de modo que a atriz não precisava parar e ficar performando para a câmera, no sentido de ter que esperar o tempo, isso não, a câmera que vai atrás da Violeta. Ela que impulsiona o movimento da câmera, ela que leva a gente, a câmera vai atrás dela, a gente trabalha muito a câmera no sentido de cumplicidade com corpo. O que é gratificante pois assim nós vamos criando nomes/conceitos, se você pegar nossos projetos, sempre há muito conceito: “A câmera que respira”, era uma câmera que ia parar, mas ao mesmo tempo, não era uma câmera parada, porque ela está na mão e ela recebe a respiração do câmera. Tem muita gente que não gosta disso, já eu adoro isso, que é você pensar na poesia, e trazer essa poesia pra falar que isso aqui é feito por gente, porque tem gente que está operando essas câmeras, que está produzindo tudo isso.
L – Eu acho que isso traz muita honestidade para o processo, porque o cinema tem essa tradição de ser aquela coisa, de tudo dar a impressão de realidade, de perfeição. Aí eu gosto destes elementos que nos fazem lembrar “gente, na verdade isso é só um filme”. Há pessoas por detrás disso, gente segurando a câmera, o microfone, tem muita gente fazendo as coisas.
G — Eu acho que isso é uma forma de pensar a linguagem, de jogar o espectador nesse lugar, trazer muito essa vontade de não mentir. O Ilha vem muito nessa vontade de não mentir, isso de falar o tempo todo “olha só, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo, mentindo pra caralho” (risos…)
L — Você falando sobre a Margarida, quando o filme foi lançado, eu fui assistir e me emocionei muito. Eu lembrei da avó de um amigo meu que havia perdido um filho há muitos anos, eu indiquei pra eles assistirem, e depois a mãe do meu amigo me escreveu, falou que havia gostado muito. E dentro dessa concepção de que tenho do cinema enquanto um trabalho também político, eu fico pensando na importância de se conversar com mães que perderam filhos em situações de violência. E o que é diferente no Café é que você não sabe o porquê da morte do menino filho da Margarida, pois a questão não é trazer a discussão, mas sim, olhar pra essa mãe, a pessoa que fica. E pensando na realidade brasileira, é muito importante que exista esse tipo de filme, pois é um assunto que não há muita produção nesse viés poético, que dá aquele abraço e aquele conforto. E eu vejo o Café com Canela fazendo isso.
G — Muita gente sempre pergunta: “ah, mas vai ser um filme político?”. Claro né, todo filme é político, não é pra isso que a gente faz cinema? Essa esfera está dada, não tem como suprimir: olhe onde está sendo feito, quem estava fazendo, a forma como está fazendo, quem está sendo filmado…
L — Não é à toa que por si só o filme já é um marco: segundo filme dirigido por uma mulher negra a estar nas salas do cinema comercial. Isso é muito, mas ao mesmo tempo é importante dizer “gente, pera lá, não vamos também confirmar a regra”, é uma pessoa fazendo filmes…
G — Mas é muito bom pensar que é importante também poder ser uma história universal. É muito universal, mas voltamos também para nosso assunto sobre os signos: a pessoa pode até se tocar, mas se for você, você terá uma experiência que é de outro. Eu li o texto do O olhar opositivo (texto da escritora e intelectual negra estadunidense bell hooks) depois que já tínhamos cortes do filme e tal, mas na hora me caiu uma ficha muito grande quando li o texto e pensei na Margarida.
L — Uma coisa que a Rosane Borges no meu exame de qualificação chamou-me à atenção acerca da importância de mulheres negras fazerem filmes: “O porquê disso ser um marco? Por que isso é importante?”. E ela falou algo muito importante, que é você pensar o universal a partir de uma realidade à margem, digamos, de uma realidade específica, que não é hegemônica, nem tida como universal, que foi construída para não ser universal. Aí vejo como muito importante quando você fala de seu interesse em poder fazer uma história que alcance as pessoas, pois é isso, se colocar no mundo como um ser completo e inteiro, como uma pessoa.
G – É exatamente isso. Veja como é muito doido: os dilemas de uma mãe, as dores de uma mãe, são dores de uma mãe, agora o fato de ser uma mulher negra faz com que o filme tenha um “boom”, do tipo “caramba, talvez eu nunca tenha parado pra pensar na dor de uma mãe, nunca tenha visto a dor”, e visto como poesia, visto para além de chacina, para além de notícias, visto como poder olhar. E aqui estou falando da visão de uma classe que não tem acesso e tampouco hábito de ir ao cinema e que consome muita televisão. Por exemplo, meus pais são esse público. Ver o filme e se enxergar enquanto negritude, poder se ver na tela é algo muito importante. Uma coisa muito bonita é o começo do filme em que aparece o vídeo do personagem Paulinho na festa, muitas pessoas que viram o filme vieram nos falar “nossa, eu nunca tinha visto imagens em videocassetes de festas: aniversários, aniversários de crianças negras, e recordar que eles próprios não tinham esses registros em suas famílias”. Eu acho que isso é um processo de perceber o que você não tem, e o filme deixa isso muito explícito, de você poder olhar isso, esses aspectos relacionados à memória, à história, ao afeto, da possibilidade de existir. O filme revela muito isso, não somente enquanto cinema, mas enquanto vida: de se projetar e poder contar histórias. No Café era muito importante que tocasse nas pessoas, que o público saísse abraçado, acho que o Café é isso: um abraço. E o mundo foi tão generoso no tocante à produção do Café que todo mundo que vê o filme gosta. Por exemplo, dona Dalva, que faz a avó, é sambadeira lá de Cachoeira, é doutora do samba em Cachoeira, e participou com a gente do filme. E é isso, a cidade de Cachoeira está toda na tela, aí as pessoas veem e ficam assim “olha só dona Dalva na tela, olha fulano, olha ciclano…”. É um filme que traz a memória, seja em seu sentido de negrura, como também memória como microcosmo. Que é negrura também e só existe por isso. Isso é muito gratificante.

L — Acho que há muito mais coisa pra gente discutir sobre o filme, mas muitas coisas foram ditas. Tem mais alguma coisa que você queira falar?
G — Eu quero também parabenizar você, Lygia, pois esse trabalho que você está fazendo é muito importante, eu fico muito feliz. Pois a história é toda assim, é muito doido esse lugar de “primeiro”, de “segundo” (isto é, por ser a primeira ou segunda cineasta negra a produzir um filme para os cinemas comerciais no Brasil), me incomoda muito. Em algum momento as pessoas falavam muito isso pra mim como se fosse uma coisa boa, e eu sempre fiquei muito constrangida, e também constrangida por estar constrangida, sabe aquele sentimento de “constrangida pelas coisas terem dado certo”? E não era isso, pois acredito que as coisas estejam acontecendo há muito tempo.
L — Eu tenho pensado muito que a exceção confirma a regra, então não podemos pensar a partir dessa chave, pois é falar que a estrutura irá se manter igual, e isso é muito meritocrático. Ao mesmo tempo que é um fato, algo revolucionário, pois há dez anos atrás não tínhamos esse número tão grande de mulheres negras fazendo filmes, e isso diz muito dos deslocamentos e lugares sociais, de acesso, de novas trajetórias de mulheres negras. Reforçando sempre que nós nunca chegamos sozinhas a lugar nenhum, é todo um conjunto de pessoas que vem atrás da gente.
G — Nesse sentido é muito importante o trabalho que você está fazendo, pois é o trabalho que irá possibilitar o não apagamento por mais uma vez, por mais um milênio. E talvez no próximo milênio possamos ter uma história catalogada. Acho que isso é pensar que tudo que a gente faz é muito preciso, pois nós não temos essa coisa de gastar à toa, nós temos uma meta, e sempre tentamos cumprir a meta. Então sempre estamos pensando em desdobramentos: um exemplo, quando eu estava fazendo meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), cujo tema foi a direção de arte do Café e o TCC do Ary foi a direção de som do Café, pois nós estávamos fazendo o filme, estávamos vivendo aquilo naquele momento e dali saíam muitas coisas. Por isso acredito que temos que pensar também no modo como podemos transformar nossas produções em produto e impulsionar.
L — Isso mesmo. E eu estou muito em um momento de muita energia, de fazer acontecer, quero fazer uma coisa, vou trabalhar nisso até ela ficar pronta. E é muito doido, mas você contando suas histórias, eu me identifico com muita coisa, pois várias coisas se repetem. Por exemplo, vou fazer faculdade, então só vai, caminhe em direção a isso.
G — É muito instintivo, porque esse ambiente de fazer universidade, fazer cinema, eu me encontrava muito sozinha nesse lugar, não tinha muitas referências, com quem falar…
L — Ainda fazendo cinema, quem faz cinema? Por exemplo, a minha avó, ela morreu esse ano, e antes de seu falecimento, na última vez que a vi, ela me perguntou se eu iria ser atriz quando terminasse o mestrado e eu respondi: “Não, vó, eu estou fazendo uma pesquisa”. Mas ela entendeu que eu iria ser uma grande atriz de televisão.
G — Comigo ocorrem perguntas assim: “Quando é que seus filmes passarão na Globo? Não vou te assistir em nenhuma novela?”. É esse lugar, um lugar muito complexo, muito novo pra gente também, enquanto que para outras pessoas parece ser um lugar natural…
L — Eu achei muito sintomático na entrevista que você participou na Mostra (Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul de 2019) ontem, quando você disse que não se considerava cineasta, e eu entendo a sua preocupação, porque é um termo que carrega um estrelismo desnecessário. Mas ao mesmo tempo, você é cineasta!
G — Eu sou do ofício, e pra mim a palavra “ofício” não combina com a palavra “cineasta”.
L — Mas é que quando você me fala desse cinema artesanal, isso até me emociona, pois pra mim é isso: um fazer muito pessoal, uma coisa muito poética, muito sua, individual. Mas a ideia relacionada ao termo “cineasta” se transformou numa coisa muito distante, chata, que te afasta das pessoas.
G — É isso. Pois pra mim quem é cineasta? É uma galera que faz cinema em um tempo que se podia usar o termo cineasta, pois ainda se vendia o termo. Pra mim, lembro que ontem quando eu falei, até algumas pessoas viram com maus olhos, acreditando ser baixa autoestima de minha parte, e não é por isso, é só porque eu acredito que a palavra seja feia. Eu prefiro o termo “realizadora”, pois eu realizo, eu acordo cedo, vou na xérox, coloco as coisas do filme no correio, preencho o formulário, peço a carta de anuência, e pra mim cineasta não traz essa esfera da realização. Já a palavra realizadora, sim: isto é, uma pessoa que realiza a pré-produção, a produção, o filme.
L — Entendi. Porque você traz uma reflexão sobre o termo e o exemplo destes diretores e artistas que têm uma dificuldade de entender a produção como algo material: por exemplo, alguém precisa beber água, então temos que providenciar água, mas quem vai comprar essa água? Uma coisa simples, mas às vezes a pessoa que está na direção, isto é, o cineasta, está nesse lugar de que não pode fazer isso, não pode recolher o lixo.
G — Nesse sentido eu sou muito agoniada, pois eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas. Aí tem várias coisas que faço, talvez eu deva ser uma péssima diretora para minha assistente de direção (risos…). Porque ainda mais trabalhando com a direção de arte, tenho acesso a problemas e tenho que filtrar um pouco e o Café ensinou muito isso. Pois também há esse lugar de querer resolver o mundo todo, aí é muita gente trazendo problemas, e muita gente é muito “mimimi”, embora sejam meus amigos, deve-se ter uma filtragem, mas muitas vezes eu não consigo e vou lá fazer.
L — Mas aí entra-se em uma outra lógica, pois tem pessoas, de um certo grupo, que estão acomodadas, acostumadas em serem servidas. As pessoas que fazem cinema com dinheiro, que vêm destas trajetórias que já conheciam o cinema, que era algo possível, essa classe média carrega muito isso, eles não têm a capacidade de colocar seu prato na pia e lavá-lo, pois uma outra pessoa irá lavar. E dentro do fazer cinematográfico: que é desde acordar e resolver problemas, ir na xérox e tal, tem gente que não tem essa cultura. Aí ficam perdidos, das coisas saírem do lugar e eles ficarem perdidos sem saber o que fazer, não saber limpar uma geladeira, enfim, essas coisas… Mas, muito obrigada pela entrevista, foi tudo muito bom! Eu sou muito fã do Café com Canela, sou uma grande entusiasta…
G — Percebi, pois só falamos do Café, o Ilha ficará com ciúmes… (risos)
QUEM TEM MEDO DO CINEMA NACIONAL?
Esse texto contém quatro seções que exploram a situação das políticas públicas no Brasil atual e que relação elas têm com ideias distintas em disputa hoje no país. A primeira seção se trata de uma introdução sobre o contexto explorado no texto, as outras seções estão intituladas da seguinte forma: Mas o que é o tal desmonte afinal?; A situação do DF: ilegalidade e autoritarismo e A História como um guia para a ação: reflexões finais.
É realmente difícil parar de questionar como o governo de um país ataca, deliberadamente, um setor da economia que está em pleno crescimento. O fato parece tão absurdo que profissionais do audiovisual, estarrecidos com a situação, oscilam entre uma articulação política incipiente e a tentativa de sobreviver em meio aos sucessivos ataques ao setor. Penso que, para começarmos a criar formas mais efetivas de resistência, é preciso entender melhor a conjuntura política que costura o desmonte. Que tal começarmos nos perguntando por que o atual governo tem tanto medo do cinema nacional?
Essa indagação nos leva a um ponto profundo que direciona o debate para muito além da importância econômica do audiovisual no Brasil. Como diz o aforismo atribuído ao crítico e professor de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, o pior filme nacional diz mais sobre nós do que o melhor filme estrangeiro. O audiovisual é uma linguagem multifacetada, pode ser expressão artística e, como tal, é capaz de provocar questionamento, reflexão. Tem o potencial de expandir mundos particulares, de não nos permitir esquecer o passado e de nos ajudar a pensar o futuro.
É também, no entanto, um instrumento de comunicação de massa, e influencia, de maneira intensa, a formação da identidade e do imaginário coletivo de uma sociedade. Prova disso é a maneira agressiva como os Estados Unidos, desde o pós-guerra, tentam dominar as salas de todo o mundo com sua produção. A política de cotas de tela, tão repudiada pelos norte-americanos quando tentam regulamentar sua presença em outros países, foi o mesmo instrumento utilizado por eles para consolidar a indústria hollywoodiana em nível global. O audiovisual, portanto, é também sinônimo de disputa de poder.
O cenário em que o audiovisual brasileiro se encontra hoje – que envolveu o lançamento de mais de 180 longas brasileiros em circuito comercial em 2018, por exemplo – é fruto de quase 30 anos de trabalho árduo de cineastas, produtores e outros agentes culturais. Implementação de políticas públicas (Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Ancine, etc), acompanhamento e análise de suas aplicações, diagnósticos do setor, momentos de maior escuta e momentos de menor escuta da sociedade civil por parte dos gestores, correção de distorções dessas políticas, e por fim, implementação de novas políticas públicas (Criação do FSA, regionalização do recurso, Lei da TV Paga, etc). Tudo isso aconteceu em meio a trocas de governo, batalhas legislativas, disputas internas dentro do próprio setor em nível nacional e em níveis regionais.
Durante essa complexa caminhada, é inegável que, na última década, o audiovisual cresceu como setor econômico, de uma maneira nunca vista; conquistou reconhecimento internacional, com participação constante nos maiores festivais do mundo; e começou a vislumbrar a possibilidade de ser mais democrático, do ponto de vista sócio-cultural. Ele se aproximou de um conceito do audiovisual enquanto coisa pública, que respeita o entendimento dos direitos à comunicação e à cultura como direitos humanos que devem ser acessados por todos – considerando aqui tanto o ato de receber quanto o de produzir conteúdo. Sendo assim, começamos a trilhar o caminho da descentralização regional, dos novos formatos de equipe, de novos realizadores, olhares, vivências e corpos distintos criando e exibindo produções audiovisuais. É claro que é só o começo da mudança, ainda precisamos avançar muito. Mas foi o suficiente para que uma parcela ultraconservadora da população decidisse que tudo isso era perigoso demais. A diversidade e a pluralidade de narrativas e visões de mundo sempre foi muito ameaçadora para projetos de governos autoritários. Trocando em miúdos, um cinema feito por poucos domina. Um cinema feito por muitos liberta.
Mas o que é o tal desmonte afinal?
O desmonte, portanto, não é apenas a destruição de um mercado, mas sim de um projeto de valorização e fomento da arte e da cultura que têm um grande potencial libertador e crítico. Não por acaso, entre as primeiras ações do governo Temer (o desmonte certamente não começou com Bolsonaro) estavam a extinção o Ministério da Cultura e o sucateamento da EBC[2] – a Empresa Brasil de Comunicação, a emissora de comunicação pública do país. É muito simbólico que as primeiras ações de um governo sejam um ataque direto à cultura e à comunicação pública, atividades que têm em sua essência o conceito da democracia, da pluralidade e da autonomia. A mobilização do setor cultural, à época, conseguiu frear a extinção do MinC, que só veio a se concretizar no primeiro mês de governo da atual gestão.
A guinada para um modelo neoliberal de cultura e, principalmente, de audiovisual (já que ele é o segmento cultural que mais chama a atenção do mercado), começa também na era Temer. O marco dessa virada foi a mudança dos critérios da Ancine para o ranqueamento das produtoras brasileiras independentes: a agência reguladora passou a priorizar o desempenho comercial em detrimento do mérito artístico das obras.
Ao mesmo tempo em que buscava uma forma de se apropriar do mercado audiovisual, o governo Temer iniciou uma perseguição a realizadores, afinal, alguns dos cineastas brasileiros mais reconhecidos da atualidade fizeram fortes críticas ao seu governo. Após se manifestar contra o governo no Festival de Cannes, na França, o cineasta Kleber Mendonça Filho teve o seu filme retirado da disputa pelo Oscar de 2017, apesar de ser o favorito à indicação e da ótima trajetória que teve em outros festivais internacionais. O longa estrelado por Sônia Braga foi substituído por Pequeno Segredo, de David Schurmann, uma obra de repercussão pouco expressiva. Fora isso, vimos o enfraquecimento da Ancine frente ao TCU, o fortalecimento de empresas estrangeiras na composição do Conselho Superior de Cinema – instância responsável por definir as diretrizes das políticas públicas para o setor –, a incerteza na prorrogação dos prazos de mecanismos de fomento como a Lei do Audiovisual, e a constante demonização da Lei Rouanet e dos próprios artistas.
O governo Bolsonaro soma a esse cenário a censura explícita, a perseguição aberta a artistas e a projetos que trazem as temáticas da diversidade. A suspensão de um edital da Ancine por conter projetos sobre temas LGBTQIA+ é um exemplo. O presidente deixou claro que iria criar “filtros” para a produção nacional. O sucateamento das instituições ganha contornos bem definidos, e para além das ameaças de extinção, vemos um quadro de dirigentes instável, a velocidade reduzida para atividades de manutenção do mercado como a assinatura de contratos e divulgação de prestação de contas, a não realização de novos editais, o apagamento de dados oficiais das páginas eletrônicas de gestões mais antigas e até a retirada de cartazes de filmes nacionais da parede da Ancine.
Outro fato muito simbólico foi a transferência da Secretaria de Cultura (órgão que substituiu o MinC) do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Entendo que o atual Ministério da Cidadania não tenha reais preocupações com o cidadãos brasileiros, mas a realocação indica muito: não pensaremos mais em cultura para a nossa população, mas sim para os estrangeiros. É cultura para gringo ver e, no pior dos cenários, para gringo fazer e impor livremente em nosso território. O atual secretário da Cultura do governo federal, Roberto Alvim, não esconde: está declarada uma verdadeira guerra ideológica contra a cultura nacional.
A situação do DF: ilegalidade e autoritarismo
A gestão do agora ex-secretário de cultura Adão Cândido, primeiro secretário nomeado pelo governo Ibaneis, começou com uma autodeclarada vontade de conduzir a cultura do Distrito Federal para o modelo neoliberal, proclamando o audiovisual como “a menina dos olhos da economia criativa”. Além de acrescentar ao nome da secretaria o termo “economia criativa” (Secretária de Cultura e Economia Criativa – Secec), o então secretário prometia transformar a cidade em um grande pólo de audiovisual do país, com a presença de grandes empresas estrangeiras; e promover a parceria com a iniciativa privada para a gestão de equipamentos culturais públicos da cidade. Esse desejo, desde o início, entrou em conflito com as demandas do agentes culturais brasilienses, que ao se mobilizarem para aprovar a Lei Orgânica da Cultura, em 2017, demonstraram que o fortalecimento das políticas públicas é o caminho mais interessante para o Distrito Federal.
As ações dessa gestão, no entanto, apenas contribuíram para o desmonte do que está sendo construído a cerca de duas décadas. O Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) é o principal mecanismo de fomento do DF. Ele é um recurso garantido na Lei Orgânica do DF. Pela lei, a dotação mínima de 0,3% da receita corrente líquida do orçamento distrital deve ser destinada ao incentivo de projetos realizados por agente culturais da cidade. A implementação e a regularidade dos editais do FAC são uma grande conquista dos profissionais da cultura. A gestão de Adão Cândido, no entanto, cancelou um dos editais aprovados pela gestão anterior, o Áreas Culturais 2018, o que impediu que mais de 250 projetos culturais fossem executados em 2019. O edital em questão não trazia a modalidade do audiovisual, que possui um edital separado, mas selecionava projetos que, em sua maioria, não possuem o modelo mercadológico enquanto princípio. A alegação do governo é de que esse recurso será utilizado para a reforma do Teatro Nacional e que essa mudança está alinhada ao poder discricionário do GDF de escolher os seus projetos de governo. A justificativa é, no entanto, completamente ilegal, já que a finalidade do FAC é o fomento de projetos culturais desenvolvidos pelos artistas da cidade. A Secec deveria procurar outras fontes de recurso, que não o FAC, para fazer a necessária reforma do Teatro Nacional.
O edital do FAC Audiovisual 2018 não foi cancelado, mas caminha a passos lentos. Um recurso que deveria ter sido liberado no começo do ano ainda está longe estar na mão de todos os proponentes. O desrespeito à Lei Orgânica da Cultura (LOC), lei construída em diálogo com a sociedade civil e que consolida cerca de duas décadas de construção das políticas públicas da cultura do DF, se tornou modus operandi dessa gestão. O superávit do rendimento do FAC nunca foi divulgado oficialmente, os editais publicados foram muito reduzidos (em número e montante) e o edital do Audiovisual 2019 sequer foi lançado. A instabilidade e a irregularidade colocam em xeque a produção cultural da cidade.
Além disso, o governo tenta mudar a LOC por decreto na Câmara Legislativa, para que ela permita que os mecanismos de fomento locais possam ser usados por pessoas que não moram no DF e até por estrangeiros. Para se utilizar de qualquer mecanismo de fomento da Secec, o artista deve retirar um certificado de agente cultural (CEAC). Para obter o CEAC é necessário comprovar, no mínimo, 2 anos de atuação cultural e que é residente do DF há, no mínimo, dois anos também. Imaginem as grandes empresas internacionais tendo a permissão de utilizar dinheiro público brasileiro para lucrar ainda mais. É um cenário assustador, não? Ainda mais se lembrarmos do que conversamos no começo desse texto: o audiovisual também pode ser um instrumento de dominação. O decreto ainda abre uma brecha para que os recursos do FAC possam ser destinados a grandes empreiteiras, para a reforma de equipamentos culturais.
Chegamos, por fim, a um breve relato da edição de 2019 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A arbitrariedade, a violência e o autoritarismo presentes nessa edição não começaram com o início do evento, e sim no início do ano, quando o setor audiovisual tentou dialogar com a Secec sobre a construção do Festival. As reuniões serviam apenas para que Cândido pudesse postar uma foto em suas redes sociais forjando um falso diálogo, já que ele nunca ouvia o que os profissionais tinham a dizer, os ofendia (“Vocês perderam a eleição”) e saía bem antes do término das reuniões.
A composição das equipes de direção artística e curadoria do evento distorceu a demanda histórica por diversidade e experiência curatorial, exigidas pelo setor cultural. Uma equipe branca, cisgênera, heteronormativa, completamente não periférica nunca vai conseguir promover uma diversidade real. Afinal, a verdadeira pluralidade vai além da representatividade nas telas, mas também na formação das equipes cinematográficas, na composição da curadoria e do júri. A descontinuidade de premiações paralelas importantes, como os prêmios Zózimo Bulbul e Leila Diniz, reforçam a ruptura com essa premissa. A não contratação de curadores profissionais retira o evento da rota de atenção de grandes festivais internacionais. O fim do cachê por exibição para todos os filmes da programação e a volta da premiação concentrada também entram em confronto com o ideal de uma produção mais democrática. É importante destacar que o que estamos perdendo não é apenas mérito de governos anteriores, mas sim demandas históricas do setor cultural que foram atendidas após anos de mobilização da sociedade civil.
Durante o FBCB, o autoritarismo demonstrado perante a classe artística nos meses anteriores ao evento se tornou público: vimos um episódio concreto de censura, um ato de violência verbal e quase física contra realizadoras, e a falta de ética que certos membros da comissão curadora demonstraram ao comentar sobre seus filmes preferidos em canais de comunicação. É importante que fique claro que essa foi a primeira edição do Festival de Brasília realizada dentro de um novo contexto autoritário na política local. Não foi um evento democrático. E quando nós, realizadores e produtores participamos dele, estamos legitimando uma prática totalitarista.
Quando vemos diante de nosso olhos um ato de censura e apenas reagimos com vaias, permanecendo sentados no cinema para assistir a filmes (é preciso deixar claro que não estou me referindo aos filmes em si, mas sim ao contexto do qual participaram) selecionados por aqueles mesmos que nos censuraram, estamos legitimando os seus atos. Como já descreveu a filósofa Hannah Arendt ao construir o conceito da banalidade do mal, quando a sociedade para de refletir as suas práticas e passa a naturalizar as práticas de barbárie em qualquer instância do seu cotidiano, ela se torna condescendente a elas. O mal aqui não vem de um indivíduo moralmente duvidoso, mas sim de um indivíduo comum que parou de refletir sobre as suas ações de maneira crítica. Essa é uma das razões para que governos totalitários tenham se instalado no continente europeu. Não podemos abrir mão do que a história já nos ensinou.
No Distrito Federal, temos uma gestão explicitamente alinhada ao Governo Federal. Afinal, esse é o governo do autoritarismo, da gestão militarizada em escolas públicas e, também, do desmonte de políticas públicas de cultura. Até o fechamento desse texto, o novo secretário de cultura Bartolomeu Rodrigues ainda não se reuniu oficialmente com os profissionais do audiovisual, mas já declarou em entrevistas que a reforma do Teatro Nacional é uma das suas prioridades e que “o Estado não pode ser mecena da cultura”. Nesse primeiro momento, alguns agentes culturais da cidade apontam que o novo Secec é mais aberto ao diálogo, mas precisamos manter a atenção, afinal, as suas primeiras declarações já demonstram que o distanciamento de um modelo de cultura mais voltado para um viés público é um projeto do governo Ibaneis.
A História como um guia para a ação: reflexões finais
Sei que parece por demais utópico dizer que temos que conduzir a nossa resistência a partir de reflexões históricas e de um ideal quase utópico de democracia. Os dados do mercado parecem muito mais concretos e, como muitos dizem, “é só essa lógica que esse pessoal entende”. A tentativa de uma defesa do setor audiovisual partindo de uma argumentação neoliberal, no entanto, não passa de falácia. Uma análise da formação do nosso mercado demonstra que os momentos de crescimento mais duradouros do audiovisual estão intimamente ligados à presença do Estado e ao desenvolvimento de legislações ou políticas públicas de fomento. O contrário também é verdadeiro. Os momentos de retração do mercado audiovisual estão, em sua maioria, relacionados à ausência de regulações ou ao não aprimoramento delas. Por exemplo, a cota de telas implementada por Getúlio Vargas foi um exemplo importante, mas a ausência de outras políticas públicas limitou o crescimento do mercado por décadas. A criação de órgãos públicos (INCE, Embrafilmes) sempre auxiliou o audiovisual, mas a falta de aprimoramento e acompanhamento desses órgãos também limitaram a atuação. A Ancine, por sua vez, conseguiu intensificar suas atividades, à medida que novas ações eram implementadas, como a criação do FSA e a aprovação da Lei da TV Paga. Não basta usar os dados do mercado – que por sinal, nunca foram tão bons numérica e qualitativamente – para defender o audiovisual desse ataque, mas é preciso que esses dados sejam contextualizados historicamente. O audiovisual brasileiro prospera a partir do momento em que o modelo de desenvolvimento o entende enquanto coisa pública e o protege do agressivo mercado estrangeiro. Isso não é utopia, é História.
Parece muito radical romper com uma proposta de “resistência” que se afasta do entendimento do audiovisual enquanto coisa pública e democrática. Em um primeiro momento, aderir a luta por estratégias que cedem espaço ao neoliberalismo, com o intuito de redução de danos, parece mais possível. Mas o resultado dessa estratégia já conhecemos: o mercado inevitavelmente irá retrair e quem continuará produzindo serão os poucos que estiveram na ponta da negociação com governo. A guinada radical pela defesa das políticas públicas é, na verdade, o caminho ainda não tentado e que pode reacender a esperança de manter nossas conquistas históricas. Essa é a lógica se aplica a quase todos os setores da economia dos países latino-americanos. A guinada para o neoliberalismo e o enfraquecimento das noções democráticas e do entendimento de setores essenciais enquanto públicos estão levando muitos desses países a um colapso econômico-social, como podemos ver com a onda de instabilidade que tem afetado a região de forma intensa nos últimos meses.
Esse caminho para a resistência e defesa do setor audiovisual não será fácil. A retração do mercado já é inevitável, diante do sucateamento das instituições governamentais relacionadas à cultura e ao desmonte de diversas políticas públicas. Mas, após um ano de observação intensa do cenário, consigo apontar algumas ações práticas que têm dado resultado. A primeira é que a mobilização, a busca e o compartilhamento de informações reais sobre o funcionamento do desmonte devem ser constantes. E isso é cansativo. Por isso, a formação de pequenos grupos (com parceiros de confiança) facilita o processo.
As atividades dos poderes legislativos e executivos (regionais e nacional) devem ser monitoradas sempre. A diversidade de grupos e coletivos do meio audiovisual não é um problema, mas as negociações com governos autoritários devem ser coletivas. Afinal, o isolamento de alguém pode significar a sua perseguição. As negociações devem ter como fim o entendimento de um modelo de desenvolvimento do audiovisual enquanto coisa pública, cumprindo sempre os princípios democráticos. Atos, eventos, instituições não democráticas nunca devem ser legitimadas, a violência e a censura não podem ser banalizadas em nosso cotidiano. A ação real é um processo coletivo, e não surge por meio de uma única pessoa ou associação. Encontros presenciais são fundamentais, por mais que as ferramentas digitais também auxiliem no processo. Essas são sugestões sinceras que faço a partir da minha pesquisa e vivência pessoal. Repito: não será simples, mas é um caminho possível. E com fortes indícios históricos de que poderá provocar mudanças reais.